Para Luiz Bicca, filósofo das matas
![]()
É decisivo agora enfatizar as contribuições das forças ou dos poderes não humanos.
(Luiz Bicca)
Pedrinha miudinha, pedrinha de Aruanda ê, lajedo tão grande, tão grande de Aruanda ê.
(Domínio popular) [1]
Eu sou maravilhado pelas pedrinhas miudinhas, nelas me vejo e delas faço meu pertencimento.
(Luiz Antonio Simas)
Começar falando das trilhas por entre as árvores da floresta, das clareiras que se abrem e que permitem alguma orientação, e mesmo sobre os rios povoados por sereias, tudo isso poderia, imediatamente, situar-nos em certo lugar e, mesmo, em certo momento. Para qualquer estudante de filosofia, seria quase seguro afirmar que o texto se ambienta em certa Alemanha e em determinado momento do pensamento europeu, e que as alegorias trazidas pelo Grande Filósofo apenas entram em cena para ilustrar algo maior, universalmente compartilhado, e que seria a figura mesma do pensar.
Assim é, e assim deve ser tudo que é digno de ser pensado: deve ser pensado grande, enorme, para transbordar as fronteiras geográficas daquilo que é explanado e, assim, permanecer visível para qualquer um (para todos e para ninguém, portanto). É desse modo que, nunca regional, a filosofia universaliza. Contudo, como escrevo sob o impacto dos gestos de Luiz Simas e de Lirinha, de um historiador e de um poeta, ou seja, como escrevo tentando perseguir a miudeza e não a enormidade[2], é por esse caminho mesmo que aparentemente de modo paradoxal começarei: por ele, por Heidegger, que de enorme não tem nada e que, por ser um pensador miúdo, pode nos ajudar bastante.

Heidegger em sua Cabana na Floresta Negra
Heidegger então, esse ser-da-floresta, nos traz algumas das pedrinhas mais lindas e miúdas da filosofia ocidental, Ser e tempo, A origem da obra de arte, A questão da técnica, e tantas outras sobre as quais já me debrucei tanto. Mas, agora, acho que esse filósofo sertanejo tem muito mais a nos ensinar do que ele próprio e, sobretudo, os orgulhosamente autoproclamados heideggerianos podem supor. Com pequenas alterações, eu diria que seu filosofema mais significativo para nós, pensadores do hemisfério sul, é aquele ao qual muitos parecem ter de se opor: para ele, Heidegger, era impossível não filosofar em alemão. Isso quer dizer, em minha interpretação miudista e contragrandiosa, que ele, Heidegger, nascido na floresta negra, só poderia filosofar desde e a partir da língua e da cultura alemã; que, para ele, em seu nome próprio, só fazem sentido as alegorias da floresta negra, do caminho dos lenhadores, da sereia Loreley e assim por diante.
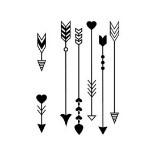
Posto dessa maneira, parece não haver como alguém se contrapor a este pensamento que, de tal modo regional, geográfica e historicamente localizado, nos oferece a linda tese de que, sob a mesma perspectiva, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha, só para tomar alguns como exemplos, podem ser, eles também, considerados autores de Grandes Obras filosóficas.
Entretanto, eu gostaria de arriscar a minha hipótese ainda mais um pouco, levando-a a um transbordamento radical que cada vez mais me interessa rumo a uma filosofia popular brasileira: mais do que um grande autor proveniente da elite, Heidegger é um pensador com os pés no chão, de pés descalços, talvez muito mais próximo a Davi Kopenawa e Abdias do Nascimento do que a Jorge Amado e Clarice Lispector.
E esgarçando ainda mais a hipótese, para finalizar: se Heidegger baixasse por essas bandas, e não na Grande Europa (há também a Europa miudinha, claro, que nunca ousaria fazer “grandes filosofias”), talvez como um caboclo de Umbanda, Seu Floresta Negra, ele, ao invés de escrever seus Holzwege, possivelmente cantaria:
Caboclo não tem caminho para caminhar,
Caboclo não tem caminho para caminhar,
Caminha por cima das folhas,
Por baixo das folhas, por todo lugar. [3]
![]()
Contudo, uma ressalva: Jacques Derrida não era da floresta e parece se lamentar tanto por isso, por ser do povo do Magrebe, que teve toda a sua cultura e língua destituídas pelo processo colonial que, por sua crueldade, ao longo das gerações, não deixou a ele senão uma língua, que não lhe pertence [4]. Ele, Derrida, com a cabeça voltada ao Mediterrâneo para empreender sua desconstrução da colonialidade, parece nos dizer: Heidegger ainda pode se sentir em casa em sua língua, pode estar confortável com sua cultura, pois ele consegue acreditar que elas lhe pertencem ou que ele pertence a elas. Mas nós não.
Para nós, nascidos abaixo da linha do equador, não há pertencimento possível, nem nenhum tipo de propriedade, só tentativa de reapropriação. A língua e a cultura são como as invasões aéreas, bombardeios, avanços bandeirantes, epidemias, estupros, escravização e extermínio. Por isso é necessário o jogo da invenção de uma língua e uma cultura que esgarce e arrombe o europeísmo por dentro, cravando em seu seio as flechas beduínas que marcam aquele deserto tão celebrado por Nietzsche.

Cruzando o Deserto, chegando à terra de Ketu, Derrida poderia, ao invés do filósofo da Floresta Negra, ter conhecido Òsóòsì, filósofo de uma flecha só e, quem sabe, ter se tornado, ele também, um odé. Pois, se concebermos a desconstrução como uma tarefa que se aprende com Esù e Ògùn, ou seja, uma estratégia de luta que se dá no interior do pensamento europeu e que, para tal guerra tecnológica, como ensina Ògùn, precisamos empreender uma ressignificação disseminante, como ensina Esù, poderíamos pensá-la, daqui e em diante, também como uma herdeira do terceiro irmão desse clã, cuja tarefa é a arte do caçador, a ser aprendida e ensinada.
Aliás, segundo Reginaldo Prandi, é com o irmão guerreiro que Òsóòsì aprende a caçar: “Quando por fim venceu os invasores, [Ogum] sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Sempre que houvesse necessidade ele iria até seu encontro para auxiliá-lo. Ogum então ensinou Oxóssi a caçar, a abrir caminhos pela floresta e matas cerradas”[5]. Mas quem seria esse filósofo das flechas? O que ele ensina? Em diversas de suas estórias, Odé (que nada mais quer dizer que “caçador”) só possui uma flecha. Ou seja, traz sempre ele consigo a ideia do tiro certeiro. Pensar com uma flecha só é, nesse sentido, saber o momento para o lance, nem na pressa nem no atraso, mas sim a demora necessária para que o momento seja aproveitado em sua máxima potência.
O pensador que acerta com uma flecha só, Oxó (Òsó), é aquele que se torna popular, Ossi (Òsì), pois passa a ser não apenas o provedor como também o protetor e que, nesse sentido, tornado Oxóssi, possibilita as grandes festas e comemorações. É interessante sublinhar esse caráter comunitário sempre ligado ao pensador-caçador: nunca os itans se referem a uma caça para consumo próprio, sempre contam a história da chegada com a comida para toda a tribo, para os festejos, e mesmo os caçadores mais solitários, como aqueles que se escondem nas profundeza dos rios, como Ibualamo, precisam desses significativos momentos de encontro.
O ní dá wó / O ní dá wó ní ma lè / O ní dá wó lè mimó (ele nasceu para caçar / ele tem o poder do caçador / ele tem o poder sagrado do caçador)
Ofà mo lò si / Abo wá / Abo wá là abó (ele usa seu arco e flecha / para nos proteger / para nos proteger e abrir nossos caminhos)
Siré, siré / Odé ma ta òrè òrè / Siré, siré / jà bè lè okè ílò rò odè ma ta àgo lónam (festa, festa / o caçador sempre confraterniza com os amigos / festa, festa / com sua licença cantamos e pedimos que confraternize conosco e que sua paz nos alcance)

Quero sublinhar o caráter comunitário do saber-flecheiro, pois, ainda que a tarefa da caça seja individual ou não necessariamente coletiva, existe o momento fundamental da partilha desse saber conquistado, quando a caça é trazida à tribo. Ousaria dizer, por isso, que o pensamento que tem como instrumento a flecha configura uma espécie não de ethos mas de odu do caçador[6]. E a tal Odu, caminho ou destinação, respondem um certo número de indivíduos que poderiam ser chamados de pensadores das flechas ou odés. Sabemos que, no panteão iorubano, esses não se limitariam à figura de Oxóssi, incluindo também Erinlé, Ibualama, Logum Edé, Otim e todo aquele que, com ou como Oxóssi, aprende a caçar, como Omolú e Ewá. Porém, acredito que há uma coletividade ainda mais ampla a ser aqui pensada, e que inclui e ultrapassa a destinação do caçador, o que, para mim, é extremamente importante, já que diversas populações ameríndias têm seu saber-viver como coletores ou plantadores.
Lydia Cabrera, em seu livro A mata, diz que “persiste no negro cubano, com assombrosa tenacidade, a crença na espiritualidade da mata”[7]. Com essa obra, ela acaba por delinear algo muito importante, a meu ver, para pensarmos uma coletividade inclusiva como essa que chega ao novo continente e que, trazidas à força de tantas Áfricas, se encontra com os saberes desse chão. “Tudo se encontra na mata”, “a vida saiu da mata”, “somos filhos da mata”, escreve a estudiosa cubana que batiza, com seu livro, algo como um “povo da mata”, do qual os odés fazem certamente parte, mas também Ossaim, Aroni, Iroko, Ocô e todo o povo que tem como elemento de seu poder tudo aquilo que se encontra nas matas: pedras, cachoeiras, plantas, vento, chuva etc.

No Brasil, a chegada dos Bantos e seu encontro com os habitantes originários de nossas terras gerou uma identificação quase imediata, por serem povos que tinham pensamentos profundamente enraizados em uma espacialidade e toda sua espiritualidade constituída a partir de seu entorno. Nesse sentido, a macumba brasileira, o único nome possível para esse pensamento de encontros e encruzilhadas, nasce desse povo das matas que, agora, além de caçadores, curandeiros e agricultores, passam, nas tribos e nos quilombos, a contar com a presença de sacis, sereias-índias, botos. E a cada figura que se soma a esse panteão infinito como as trilhas nas matas, uma pedrinha a mais é lançada nesse lajedo, potencializando ainda mais nossas possibilidades filosóficas.
É por essa razão que, como canta o ponto, Oxóssi, aqui no Brasil, é um caboclo morador lá do sertão, pois quando baixa nessas terras, ele traz toda a força dos odés de África, não só os de Ketu,  mas também os Bantos Mukumbe, Gongo Mukongo, Kabila, Mutalambo, Nkongo Mbila, o Jeje Agué, todos esses que se encontram, aqui, com os caciques, pajés, caboclos e índias flecheiras. O encontro dos bantos com os indígenas, ressignificado pela chegada dos jeje-nagô, criam o solo não apenas de desenvolvimento da religiosidade brasileira, como os catimbós, as juremas, os candomblés e as umbandas, mas também a potência de um pensamento popular brasileiro que, como antropofagizaram o catolicismo popular português, dando tanta cor e vida às nossas festividades, podem nos ajudar a fazer o mesmo com a filosofia europeia.
mas também os Bantos Mukumbe, Gongo Mukongo, Kabila, Mutalambo, Nkongo Mbila, o Jeje Agué, todos esses que se encontram, aqui, com os caciques, pajés, caboclos e índias flecheiras. O encontro dos bantos com os indígenas, ressignificado pela chegada dos jeje-nagô, criam o solo não apenas de desenvolvimento da religiosidade brasileira, como os catimbós, as juremas, os candomblés e as umbandas, mas também a potência de um pensamento popular brasileiro que, como antropofagizaram o catolicismo popular português, dando tanta cor e vida às nossas festividades, podem nos ajudar a fazer o mesmo com a filosofia europeia.
![]()
Simas e Rufino, no brilhante Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas[8], falam da atividade do encantamento como tarefa do caboclo, como potência filosófica diante do mundo desencantado pela Modernidade Ocidental, como descreveu Weber[9]. Eles mostram, com isso, como a potência de uma filosofia popular brasileira tem a contribuir com as questões mais prementes do mundo atual, com as ervas incandescentes que defumam a velha filosofia e abrem caminhos para muitas outras perspectivas, sem propriedade, sem pertencimento autêntico e sem nação, pois esfumaçam apenas saberes localizados por essa ou aquela tribo, saberes por vezes contraditórios, por vezes coincidentes, por vezes concorrentes, mas que apontam sempre num mesmo sentido: o chão.
Ousaria aqui dizer que, não apenas das mãos se retiram os saberes das matas. É certo que as mãos, sejam as que manejam as flechas, as lanças ou as folhas, são fundamentais à filosofia das matas, mas não podemos deixar de afirmar que, tal pensamento, e é de onde provém todo seu poder, é criado a partir dos pés.
“Pisa na minha aldeia, caboclo, pisa mas não bambeia”, cantam. A pisada deve ser certeira, sem bambear, mas também ser leve quando precisa. O controle dos pés no chão, esta estranha medida da pisada, talvez seja o que de mais importante o ocidente tenha a aprender, pois, como diz outro ponto, “pra pisar na folha da macaia tem que saber pisar! Se não pisar direito você pode escorregar. Caboclo pisa, sabe como está pisando. Ele pisa firme, balanceia e sai andando”.
Nietzsche disse que “falar a verdade e atirar bem com flechas, eis a virtude persa”[10]. Talvez, se conhecesse o hemisfério sul, teria dito que aqui, a essa virtude da verdade e das flechas, soma-se a sabedoria dos pés, do equilíbrio, do balanço, que inaugura uma outra epistemologia, a dos pés descalços, e outra ética e outra política, que vai desde o “pisar no chão devagarinho”[11] de Dona Ivone Lara até a ginga e a malandragem de uma ético-política pilíntrica[12]. E tudo aqui se abre com a pisada no chão do caboclo, que pisa porque sabe como está pisando e que, por pisar firme, consegue balançar o corpo para não cair, sair andando e encontrar outros caminhos para caminhar, pois, diferente das trilhas da floresta negra, que guardam sempre certo segredo abismal, que acaba sempre por requisitar uma certeira (e portanto obrigatória) orientação, o caboclo daqui não tem caminho para caminhar, ele precisa, a cada vez, de modo singular e único, inventar um novo caminho.
No entanto, para isso, para que isso aconteça, para que estejamos abertos às condições de impossibilidade do acontecimento, como preconiza Luiz Bicca ao final de seu grande livro sobre a Terra, sua filosofia de pés no chão, “é decisivo agora enfatizar as contribuições das forças ou dos poderes não humanos”[13].

Por fim, sem pretender nenhum fechamento, sabemos que é sempre preciso encerrar a gira. Ainda que provisório, todo texto tem que cantar para subir. E, mesmo nesse momento, ao contrário de grande parte dos filósofos ocidentais, que, não cantando para subir, querem dar seu ponto final, a sabedoria doa caboclos ainda têm muito a nos ensinar.
Caboclo, pega a sua flecha, pega o seu bodoque, o galo já cantou.
Acabar um texto não é, de modo algum, comprovar uma teoria, finalizar uma dedução, uma análise ou terminar uma argumentação de modo total. Precisa-se de acabar simplesmente porque o galo canta ou porque já está na hora de baixar em outros terreiros, jogar outras flechas, pisar sem bambear ou encantar com as ervas da jurema.

Assim, as flechas atiradas, que só os caboclos sabem aonde caíram, apontam outros caminhos. Seguindo as setas do mateiro adentramos em uma floresta de signos versada no encante que nos permite o transe, o movimento e cruzo por outras perspectivas de mundo, outros princípios ônticos e epistêmicos.
(…)
Dessa forma, camaradas, o caminho do caboclo é em todo lugar, é incontrolável, anda por cima, por baixo, escreve o segredo da existência nas folhas. Para nós, assombrados pelo desencanto de um projeto de mundo concebido, a partir da morte, como perda de potência, nos caberá romper mato, banhar-se na areia, vestir-se na samambaia, trazer na cinta a cobra coral, virar onça, sucuri, arara e atravessar o mar a nado. Só transgredindo a morte, física e do desvio existencial, como também a vida, sem potência e desencatada, nos arriscaremos a ver a juremeira e ouvir o bradar dos caboclos no cair da tarde. [14]
NOTAS
[1] Ponto dos caboclos boiadeiros na Umbanda, a música foi gravada por Lirinha e por seu grupo, Cordel do Fogo Encantado, em seu disco homônimo de estreia, de 2001.
[2] Luiz Antonio Simas. Pedrinhas miudinhas. Ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros. Rio de Janeiro: Mórula editorial, 2013, pág. 13.
[3] Ponto de Umbanda. Agradeço a Guilherme Cadaval, que me chamou a atenção para esse lindo ponto.
[4] Cf. Jacques Derrida. O monolinguismo do outro ou a prótese de origem. Belo Horizonte: Chão da feira, 2016.
[5] Reginaldo Prandi. Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, pág. 112.
[6] Devo essa referência ao uso do termo odu como substituto do ethos a Renato Noguera. Em “Sambando para não sambar: afroperspectivas filosóficas sobre a musicidade do samba e a origem da filosofia”, Noguera apresenta o objetivo do texto, que consiste em “descortinar sua ética, um tipo de odu (destino no idioma iorubá), isto é, um tipo de envio, trajetória, caminho que se faz nas encruzilhadas da existência (Renato Noguera. “Sambando para não sambar: afroperspectivas filosóficas sobre a musicidade do samba e a origem da filosofia”. In: Wallace Lopes Silva (org.). Sambo, logo penso. Afroperspectivas filosóficas para pensar o samba. Rio de Janeiro: Hexis Editora, 2015, pág. 48). Aliás, na esteira das provocações, será que a melhor tradução para o ethos antropos daimon de Heráclito não seria “O odu do homem é o orixá” ou “o caminho do homem é exu”?
[7] Lydia Cabrera. A mata. São Paulo: Edusp, 2012, pág. 23.
[8] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas. Rio de Janeiro: Mórula editorial, 2018. Cf. em especial, os capítulos “Cadê Viramundo, pemba?” e “Caboclo: supravivente e antinomia da civilidade”.
[9] Se o projeto colonial construiu uma igreja para cada população dizimada, nós encantamos o chão dando de comer a ele, louvamos as matas, rios e mares, invocamos nossos antepassados para a lida cotidiana e nos encantamos para dobrar a morte”. E mais à frente: “A perspectiva do encantamento é elemento e prática indispensável nas produções de conhecimento” (Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, págs. 12 e 13).
[10] Friedrich Nietzsche. Ecce homo: como alguém se torna o que é. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, pág. 111.
[11] Dona Ivone Lara. “Alguém me avisou” (em Sorriso negro, 1980): “Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há. Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho. Mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho”.
[12] Sobre isso, remeto não apenas ao já citado “Sambando para não sambar”, de Renato Noguera, mas também ao capítulo “Zé Pelintra: juremeiro do catimbó e malandro carioca”, do Fogo no mato de Simas e Rufino e ao lindo texto de Marcelo José Derzi Moraes e Adriano Negris “Escrituras da cidade: ordem e desordem a partir de Derrida”, que trata, entre outras figuras, de Madame Satã (Marcelo José Derzi Moraes e Adriano Negris. “Escrituras da cidade: ordem e desordem a partir de Derrida”. In: Dirce Eleonora Solis e Marcelo José Derzi Moraes. Políticas da cidade (Coleção Querências de Derrida, moradas da arquitetura e filosofia, vol. 4). Porto Alegre: UFRGS, 2016).
[13] Luiz Bicca. Vida cotidiana e pensamento ecológico. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio / 7Letras, 2018, pág. 267.
[14] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, págs. 102 e 103.








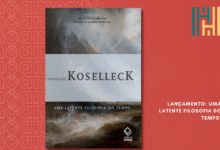


[…] [13] Referência ao meu texto “Por uma filosofia das matas”, disponível em minha coluna “Filosofia Popular Brasileira” na Revista HH Magazine: https://hhmagazine.com.br/809-2/ […]