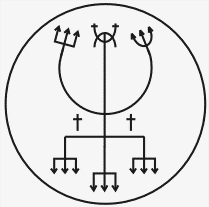Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Iansã
Ô gira, deixa a gira girar / Ô gira, deixa a gira girar
Os Tincoãs
Breve Nota:
Esse texto foi escrito a partir do texto “A gira macumbística da filosofia”, publicado em fevereiro desse ano na Revista Cult, Edição 254. Agradeço ao cumpadre Luiz Rufino, por topar organizar o Dossiê “Filosofia e macumba”, e à Daysi Bregantini, por não só aceitar, como apoiar totalmente o projeto. Esse texto pega o movimento da gira que foi aberta no Dossiê faz correr a gira.
Era meia noite quando o malvado chegou
Era meia noite quando o malvado chegou
Corre gira, Corre gira, vai chegar a madrugada
Salve Exu, Salve Exu Das 7 encruzilhadas
(Ponto de Exu das 7 Encruzilhadas)
Filosofia Popular Brasileira e a Gira Macumbística
Se uma filosofia brasileira digna desse nome, à altura do que seria, entre muitas aspas, tal brasilidade, precisa ser substantiva, e não meramente adjetiva, como nos atentou Gerd Bornheim[1], se tal filosofia brasileira tem ganhado a alcunha, nos meus termos, de uma filosofia popular brasileira, é porque, para ser de fato brasileira, precisa se debruçar sobre nossa cultura popular. No entanto, tal debruçar sobre a cultura popular brasileira só pode acontecer se o filósofo, abandonando seus escritórios, suas bibliotecas, e mesmo suas salas de aula, pegue seu caderninho de anotações, como fizeram tão bem Walter Benjamin e Guimarães Rosa, e saia dos muros das universidades e se dirija às ruas, aberto aos encontros que as encruzilhadas propiciam.
Tal gesto de saída e escuta às ruas, que meu amigo Marcelo Rangel tão bem localiza e chama de giro ético-político da filosofia contemporânea, mais precisamente da filosofia ocidental contemporânea, quando ocorre em nossas terras ao Sul do mundo, produtos de colonização, estupros, sequestros, assassinatos e escravidão, certamente tal giro não pode manter esse mesmo nome. Como aqui o buraco é mais embaixo, é preciso promover o giro a partir daquilo que é, ao mesmo tempo, mais próprio, mais comum, mais banal, mas também mais escondido, mais temido, mas causador de vergonha, que, aqui, na esteira dos trabalhos de Luiz Rufino e Luiz Antonio Simas, chamo de macumba.
Macumba como o nome na esfera da cultura que se dá às práticas religiosas afro-ameríndias, como os candomblés, as umbandas, os batuques, os catimbós, as juremas, os tambores de minas, mas também às capoeiras, aos sambas de roda, aos fundos de quintal, aos jongos e a todas as rodas que promovem outras epistemologias, populares e que são, por isso mesmo, revolucionárias. Cito Simas e Rufino:
A poética, aqui lançada, é cuspida feito marafo na encruza, a proposição de um giro epistemológico, a partir da ciência encantada das macumbas, é também nossa resposta responsável no combate a todas as formas de injustiça cometidas ao longo da história contra negros e indígenas. A amarração dessa obra como um verso que alinhava a macumba como complexo de saberes cosmopolita e descolonial é primeiramente uma ação afirmativa antirracista.[2]
Entretanto, um giro macumbístico como esse que ocorreria ao Sul, que é certamente tão ético e político como o ocidental ou mais, porque é também poético e gnosiológico, não pode tão-somente tomar a forma de um giro, no sentido de reviravolta, virada ou tantos outros nomes que se dá a um novo rumo de certo pensamento. Como me lembrou Rodrigo do Amaral Ferreira, que com seu pano branco nos faz ver tudo de outro modo, na cegueira tateante, se falo de um giro macumbístico, o que preciso marcar é que tal giro se transforma numa gira macumbística.
A gira, o feminino do giro, sua feição mulher que, não apenas gira como o giro no sentido de mudar, desviar, promover deslocamentos, mas que também gira como a festa, a roda, o encontro que abre os caminhos e que é marcado pelo termo quimbundo njira. Falo, portanto, de uma gira macumbística da filosofia brasileira, gira esta através da qual a filosofia brasileira, antes apenas adjetivada como uma produção do território nacional, pode vir a encarnar a brasilidade das ruas, tornar-se substantivo produzido por corpos, músicas, sonoridades, cores, espíritos, cheiros e tantas outras coisas que jamais compreenderá nossa vã filosofia (ocidental).
E este “jamais compreender” é, aqui, imperativo, pois a ideia de compreensão, justamente, atividade unicamente mental, é o que impede a própria relação com o conhecimento macumbeiro, que precisa ser sentido pelo corpo como um todo, experimentado por sentidos e razões múltiplas para que, ao invés de ser compreendido, prendido, apreendido, aprendido na forma de sujeito e objeto, ele seja incorporado, tateado, degustado, cheirado, ouvido, cantado. Só assim ele poderá baixar, ainda que sempre provisória e precariamente, nos assombrando e sendo, ele, tal conhecimento, muito mais o “sujeito” desta relação.
Ao contrário de Hegel, que afirma que o Espírito se fenomenaliza através de diversas e subsequentes etapas, arquitetadas pela Razão, afirmo que os espíritos baixam, através de diferentes giras, sem ordem nem razão prévias, guiadas apenas pelo imperativo do “deixa vir quem tem de vir”, como dizia Mãe Concheta, minha falecida mãe de santo, ou, em termos filosóficos, segundo à lógica do acontecimento. É por essa razão que uma gira macumbística só se dá através de um “empirismo radical”[3], no qual é tamanha a hipérbole da noção de experiência, que os próprios lugares de sujeito e objeto, de consciência e mundo, ou qualquer outro dualismo epistemológico se encruzam de tal maneira que não podemos mais definir precisamente os limites entre o dentro e o fora, apenas marcar o encontro no coração da encruzilhada.
Nesse sentido, tomando aqui as mandingas de Simas e Rufino como guias, não no sentido apenas de guiar, mas de abrir caminho, abrir a njira, resumo alguns traços ou pontos riscados dos principais procedimentos macumbológicos para a gira girar.
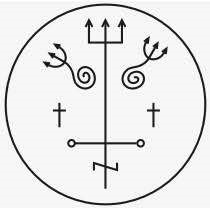
Epistemologia e metodologia macumbeiras
Fogo no mato – a ciência encantada das macumbas, de Simas e Rufino, lançado em 2018, marca a tentativa de propor novos conceitos e novas epistemes a partir dos saberes populares que podem ser agrupados em torno do nome “macumba”. Este livro talvez seja a primeira obra cujo esforço é empreender uma Filosofia Popular Brasileira, um saber conceitualmente rigoroso vindo das ruas, nascido nas ruas e que se dirige às ruas. Este saber macumbeiro, nos termos dos autores, tem em seu “caráter brincante e político” uma atitude que “subverte sentidos preconceituosos (…) e admite as impurezas, contradições e rasuras como fundantes de uma maneira encantada de se encarar e ler o mundo no alargamento das gramáticas”[4]. E define:
Macumba seria, então, a terra dos poetas do feitiço; os encantadores de corpos e palavras que podem fustigar e atazanar a razão intransigente e propor maneiras plurais de reexistência pela radicalidade do encanto.[5]
Diante do desencantamento do mundo, denunciado por Max Weber, me parece que as tarefas dos dois hemisférios são um tanto distintas. Se no hemisfério norte a racionalidade moderna passou como rolo compressor por sobre os saberes populares, atingindo seu ápice no hegelianismo, como tão bem denunciaram Nietzsche e Heidegger, o rolo compressor colonial, apesar de todo epistemicídio e de todos os assassinatos de pessoas e saberes, não conseguiu desencantar nosso território como um todo. Por aqui, muitas ruínas, cacos, restos e rastros encantados permaneceram nos saberes dos habitantes originários e nos daqueles sequestrados e trazidos nos navios negreiros. Se para Derrida, não lhe restou nada além da cultura e da língua francesa – e daí sua tarefa de olhar para a Europa de modo a desconstruir esta herança –, para nós há mais elementos à nossa disposição para empreender, num mesmo gesto, a desconstrução do europeísmo e a descolonização dos saberes massacrados pelo racismo epistêmico.
Se o projeto colonial construiu uma igreja para cada população dizimada, nós encantamos o chão dando de comer a ele, louvamos as matas, rios e mares, invocamos nossos antepassados para a lida cotidiana e nos encantamos para dobrar a morte.[6]
Afirmado que macumba é a “ciência encantada” que promove a “amarração dos múltiplos saberes”[7], Simas e Rufino apresentam a perspectiva do encantamento como “elemento e prática indispensável nas produções de conhecimento”, que, por sua epistemologia pluriversal, desvia-se e põe em xeque as estruturas coloniais do saber desencantado. Manifestando os saberes subalternizados pelo projeto colonial, encruzando e amarrando outros saberes, a macumba surge como uma “potência híbrida que escorre para um não lugar, transita como um ‘corpo estranho’ no processo civilizatório, não se ajustando à política colonial e ao mesmo tempo o reinventando”[8].
A perspectiva do cruzo, então, passa a ser fundamental para uma filosofia das macumbas brasileiras, tornando-a, ao mesmo tempo, uma produção conceitual de alta potência e também uma prática do encanto[9]. Cruzar ou encruzar, então, significa assumir uma perspectividade afro-ameríndio-brasileira que produz conceitos a partir destes saberes macumbeiros ao mesmo tempo em que, nessa perspectiva, o filósofo se torna, ele também, um Kumba, que não apenas é o feiticeiro, mas também o poeta e o “encantador de palavras”[10]. Se no dialeto quicongo, dos bantos, o prefixo ma forma o plural, nesse sentido, um encontro de filósofos populares brasileiros, como este, é, necessariamente, uma macumba, uma reunião de encantadores, como nos ensinam Rufino e Simas.
Contudo, ressalto, me juntando aos dois amigos kumbas, que não se trata aqui de um virar as costas aos saberes ocidentais, já que eles também nos constituem, mas sim de promover o cruzamento e o encanto também desses saberes que necessitam de cores. Se as macumbas brasileiras são grandes complexos de epistemologias múltiplas, “a relação com diferentes saberes potencializaria a prática do cruzo”[11], e, nesse sentido, sob a lente do amiudamento, filósofos ocidentais encontram-se com filósofos macumbeiros, encantando-se e promovendo amarrações e encantamentos.
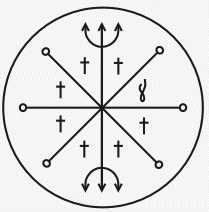
“Encruza, encruza, encruza terreiro, encruza”
Em seu livro de 2013, Pedrinhas miudinhas, Luiz Simas já anunciava essa necessidade do amiudamento:
Como diz um velho ponto de encantaria, para chamar os boiadeiros que moram nos ventos, ‘uma é maior, outra é menor, a miudinha é que nos alumeia / pedrinha de Aruanda ê’. Eu sou maravilhado pelas pedrinhas miudinhas, nelas me vejo e delas faço meu pertencimento. (…) O resto são as coisas e pessoas poderosas – inimigas dos rios e das ruas – e suas irrelevâncias.[12]
O amiudamento do pensamento ocidental pode promover vários encantos, como o encontro do Caboclo Pedra Preta com Walter Benjamin, como cruzou Simas, ou o encontro de Heidegger com Oxóssi e todo o povo das matas, como cruzei recentemente[13], ou tantos outros cruzos ainda por fazer, como Derrida com Baba Egun, Bachofen com Exú caveira, o flanêur com Zé Pilintra, numa gira sem fim. “É a miudeza que vela e desvela a aldeia, as suas ruas e as nossas gentes”, escreve Simas em seu mais recente livro, O corpo encantado das ruas[14], mostrando que se os segredos dos grandes lajedos está justamente nesse olhar para o pequenino e que as grandes filosofias soçobram diante desse olhar, em sua grandeza desencantadora, e podem abrir espaço para experiências miúdas de pensamento, reveladoras portanto e absolutamente ameaçadoras ao projeto colonial. “Apequenar-se na gramática macumbeira tem efeito de mandinga”, dizem Simas e Rufino no recente Flecha no tempo, “saber que ficou gravado nos elos da pertença entre o velho e o novo e podem nos ensinar a despachar o carrego e fechar o corpo para nossas batalhas”[15].
Luiz Rufino, por sua vez, em Pedagogia das encruzilhadas, livro lançado este ano, nos apresenta aquilo que podemos pensar como o gesto fundamental para abrir a gira e firmar o ponto nesse território que precisa ser terreirizado: o ebó epistemológico que precisamos fazer para despachar o carrego colonial[16], atacando o cerne da mitologia branca, através de seu cruzo com os saberes macumbeiros. A noção de “carrego colonial” é cuidadosamente apresentada no recente livro de Simas e Rufino, no qual às barbáries produzidas pelo colonialismo nos corpos de certas pessoas são somadas as inúmeras injustiças epistêmicas, as hierarquizações dos saberes, o racismo gnosiológico, as catequeses e as conversões que operam no sentido de produzir esquecimento e apagamento das ancestralidades[17]. “O carrego colonial”, dizem Rufino e Simas, “pode ser lido na interlocução com o que Frantz Fanon chamou de colonialismo epistemológico ou complexo do colonizado, a noção em que a vítima interioriza em si a violência e os pressupostos ideológicos do colonizador”[18], e é nesse sentido que a filosofia precisar entrar na gira macumbística, pois “a macumba como complexo de saber e política ancestral se ergue, confrontando o caráter indefensável de um projeto civilizatório decadente e imoral[19].
Para despachar esse carrego colonial, Rufino propõe a prática de ebós epistemológicos, procedimento para encantar a razão moderna, para que os conhecimentos se cruzem, sejam engolidos e depois regurgitados, cuspidos como a baforada de cachaça na encruza. “Os efeitos dos ebós epistemológicos”, diz Rufino, “tendem a favorecer as condições de ampliação das possibilidades em relação aos conhecimentos que são cruzados”, por abrirem caminhos, firmarem giras e riscarem pontos[20].
A prática do ebó epistemológico resulta no alargamento da estrita noção ocidental de conhecimento, levando-o às encruzilhadas e obrigando-o a se cruzar com tudo aquilo de que ele sempre quis se afastar, as periferias dos saberes, os saberes impuros, contaminados, produzindo, nesse cruzo, uma tensão que abre um novo campo epistemológico, muito mais acolhedor e hospitaleiro a tudo aquilo que nunca foi considerado saber. Tal prática, comum no campo dos saberes ditos populares, marcam-se, por exemplo, na festa junina, quando os santos do catolicismo popular português Antônio, João e Pedro, são festejados com comidas afro-ameríndias, como milho e canjica, sob a luz da fogueira de Xangô e de Airá. Podemos dizer o mesmo do congá de Umbanda, onde os santos católicos são obrigados a cruzarem-se com pretos, índios, ciganos e boiadeiros e a conviverem em um mesmo altar. Tudo isso é fruto de operações prática que, como ebós, as ruas realizam e com os quais, nós, da filosofia, temos de aprender.
Cada livro de filosofia, nessa gira macumbística, cada texto, cada fala pública, se torna um ebó, um feitiço lançado contra a colonialidade soberana da razão e em nome das múltiplas diferenças por ela subalternizadas. “Se a política colonial produziu uma tragédia construindo ao longo de séculos desvios ontológicos, subalternizações, epistemicídios, hierarquização de saberes, invisibilidade / descredibilidade, monoculturalização e monorracionalismo”, diz Rufino, “sugiro, a partir da emergência de um projeto transgressivo e resiliente, praticar ebós nas raízes do edifício colonial”[21].
Mas a questão que precisamos colocar agora diz respeito à metodologia da qual se necessita a fim de se empreender o cruzo e praticar o ebó. A questão, então, que agora coloco é a seguinte: como estar aberto a esses outros saberes, se somos forjados pelo elitismo acadêmico e cunhados pelo carrego colonial? Creio ter encontrado a resposta no capítulo intitulado “O pesquisador cambono”, de Fogo no mato: “É nesse sentido”, respondem os dois, “que a partir dos saberes assentados em uma epistemologia das macumbas destacamos o ato de se fazer pesquisa como a prática de quem cambona”[22]. Resgatando a máxima dos terreiros de umbanda de que quem mais aprende é o cambono, Simas e Rufino mostram que, ao contrário da atitude filosófica tradicional, de quem já pressupõe seu saber e que parte para o campo do conhecimento já assegurado de suas certezas, o pesquisador deve sempre assumir que nada sabe, não por sintagma de ironia, mas porque cada conhecimento que pode adquirir daquele que observa supõe um recomeço, pois sempre se começa a pensar de modo macumbístico pela primeira vez.
Como um “fazer aberto” e “inacabado”, a prática da cambonagem consistiria em uma espécie de suporte, seja ao pai de santo ou às entidades, sendo o cambono uma espécie de “faz tudo” ou “pau para toda obra” do terreiro: “Sem delongas, o cambono firma ponto e segura a pemba em um terreiro”[23], e seu caráter experimental de ser sempre um iniciante, marca o cambono como aquele que sempre se encontra à disposição de um outro, aberto ao outro e, com isso, ao novo, ao saber que, portanto, só ele conhecerá na medida em que ele, cambonando, participa praticamente da produção destes novos e potentes saberes. Diante da imprevisibilidade, destituindo-se de tudo que pretenderia saber, o “só sei que nada sei” do cambono é necessário para que um novo saber se produza, na repetição da diferença: “Seja qual for a pergunta e seja qual for a sua experiência acerca do que é questionado é prudente que se negue o que se sabe. Ao negar, mesmo que provisoriamente, o que se sabe, mantém-se em vigor a condição do cruzo”[24]. Bebendo um gole da cuia de um preto-velho aqui, anotando uma receita de banho passada por uma cabocla ali, auxiliando a consulta de um exu acolá ou acendendo os cigarros de um malandro, o cambono transita entre saberes e práticas, com isso, e só assim, ele aprende a praticar o cruzo.
O pesquisador cambono, sem nunca afirmar saber, mas versado por isso nas práticas do cruzo, que são os fundamentos da ciência encantada das macumbas, apenas ele, é quem realiza o ebó epistemológico para despachar o carrego colonial, amiudando os grandes pensamentos através do brilho minúsculo das pedrinhas que marotamente vai juntando em seu cambonar. Podemos dizer, então, que o cambono, por seu empirismo macumbeiro, é a própria condição de possibilidade de a gira girar.
Simas e Rufino, portanto, juntos e separados, com suas recentes obras, nos apresentam uma série de “balaios de conceitos”[25] com os quais precisamos, como cambonos, aprender. Firmando ponto e riscando novos campos de batalha e de mandinga, a ciência encantada das macumbas ultrapassa e encruza a epistemologia, mostrando que, no batuque de uma gira macumbística, a filosofia popular brasileira também é necessariamente ética, política e poética[26]; que, para além de ritos religiosos, “nossas macumbas (sambadas, gingadas, funkeadas, carnavalizadas, dribladas na linha de fundo) traçam as tramas do diálogo com os ancestrais”[27]; e que, encarnadas e incorporadas nas ruas, estão à disposição do pesquisador cambono em qualquer terreiro, nos botequins, nas arquibancadas, nos pagodes, nas festinhas de subúrbio, nos trens, enfim, em qualquer “corpo encantado” que se encontre nas ruas.
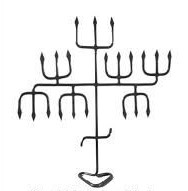
Cantando pra subir
Como antecipei, esse texto nada mais é que um relatório de pesquisa que eu, cambono, rascunho em meu trabalho de campo, ouvindo e anotando as vozes de kumbas, tentando aqui, nesse meu não saber, tentar dar a roupagem político-poética de meu feitiço, já que, como lembra Marcelo Moraes, Ogum é também um feiticeiro. Quando invoco o termo “gira macumbística da filosofia brasileira” como parte de meu projeto de firmar um campo de mandinga e de batalha chamado Filosofia Popular Brasileira, não quero, de modo algum, me pensar como inaugurador deste projeto. Ele, aliás, sempre esteve aqui: desde que os habitantes originais dessa terra encantavam pedras e soltavam suas baforadas de fumaça; desde que, sequestrados de suas terras, os negros, aqui, quinavam suas ervas; desde que, fugidas da fome, portuguesas botavam, nessas terras, Santo Antônio de cabeça pra baixo dentro do copo d’água para arrumar um bom casamento; desde que ciganas de fé vagueiam por nossas estradas, lendo as mãos e dizendo toda a verdade para quem vinha caminhando a pé.
Não há originalidade alguma nessas páginas que risquei, apenas uma tentativa de dar um nome para isso que está há séculos acontecendo e que o saber filosófico insiste em negar como conhecimento. Simas e Rufino, nesse meu intuito, me forneceram os elementos de que precisava para montar esse meu balaio, totalmente arrumado com os conceitos dos outros, e que ecoam tantos outros balaios já presenteados nas encruzilhadas de nossas filosofias. Fogo no mato se tornou para mim, junto aos outros ebós de Simas e Rufino, como a possibilidade de entrar na gira e fazer ela correr, na gira já começada e que ecoa lindas oferendas, como as de Mãe Beata de Iemanjá, Giselle Cossard, Professor Agenor e Mãe Stella de Oxóssi, os primeiros filósofos afro-brasileiros.
Mas, nas encruzilhadas destes saberes macumbeiros, vejo-me também diante de tantos encontros que já tinham sido a mim ofertados e que, agora, preciso também invocar. Não poderia, de modo algum, deixar de pensar, como corredores dessa gira Renato Noguera que, sambando, nos oferece a tentativa de pensar através de personagens melanodérmicos; Uã Flor do Nascimento, que nos lembra sempre da ancestralidade bantu; Marcelo Moraes, que encruza Madame Satã com Jean Genet e que busca sempre apontar aos mestres das periferias; Fábio Borges, que enxerga Derrida na encruzilhada e que, em sua cruz, abriga Lutero e Exú; e Seu Sete Encruzilhadas, que, também ele, tem duas cabeças.
Encerrar essa gira com essas invocações é fundamental para sublinhar que uma njira nunca se corre sozinho e que é necessária uma reunião de poetas feiticeiros, uma ma kumba pra que a gira gire, pra que o carrego seja despachado e pra que possamos vir a cruzar outros muitos saberes, ainda à nossa frente.
Já cantando pra subir, faço não apenas minhas, mas de todos esses amigos, as palavras de Luiz Rufino que, arriadas, dizem o seguinte:
Assim, o ebó cívico que oferto na esquina da modernidade é feito com os cacos despedaçados ao longo de mais de cinco séculos, com as sobras, os pedaços de corpo e de experiência ancestral que inventaram a vida nas frestas.[28]
Portanto: Terreirizemos os territórios das universidades; saiamos às ruas com nossos caderninhos, cambonando artistas de ruas, catadoras de lixo, passistas de escola de samba, mendigos, bêbados, putas, travestis e malandros, vivos e mortos; arriemos nossos ebós nos departamentos de filosofia, antros maiores do carrego colonial; risquemos ponto e batalhemos nos humaitás dos colóquios e congressos acadêmicos; montemos nossos balaios com panos e conceitos coloridos, com rosas de todas as cores; e, por fim, cuspamos nosso marafo, por toda encruzilhada de saberes populares pela qual passarmos, pois, aí sim, mora nossa filosofia.
Encerro com a lembrança de um mestre da gira, Ismael Rangel, que, saudando Seu Sete Encruzilhadas, diz que, “a sua gira é forte, não tem caçoada / depois da hora grande vai girar na encruzilhada”, pois eu não poderia terminar senão saudando o grande filósofo das encruzilhadas, seu Sete, pois, como diz o ponto:
Sete encruzilhadas tem magia
Sete encruzilhadas tem mironga
ele é o rei da encruzilhada, que ronda
é seu Sete encruzilhadas que gira.
NOTAS
[1] Gerd Bornheim. “Filosofia e realidade nacional”, in: O idiota e o espírito objetivo. Rio de Janeiro: UAPÊ, 1998, pp. 163-164.
[2] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2018, pág.109.
[3] Referência ao Manifesto contrassexual, de Paul B. Preciado, para quem a contrassexualidade é um empirismo radical queer.
[4] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág.5.
[5] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág.5.
[6] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág. 12.
[7] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág. 14: “O conceito de amarração proveniente das sabedorias dos velhos cumbas (…) é o efeito de, através das mais diferentes formas de textualidade, enunciar múltiplos entenderes em um único dizer”.
[8] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág. 15.
[9] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, págs. 25-26.
[10] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág. 5.
[11] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág. 27.
[12] Luiz Antonio Simas. Pedrinhas miudinhas. Ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros. Rio de Janeiro: Mórula editorial, 2013, pág. 13.
[13] Referência ao meu texto “Por uma filosofia das matas”, disponível em minha coluna “Filosofia Popular Brasileira” na Revista HH Magazine: https://hhmagazine.com.br/809-2/
[14] Luiz Antonio Simas. O corpo encantado das ruas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019, pág. 10.
[15] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Flecha no tempo. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, pág. 24.
[16] Luiz Rufino. Pedagogia das encruzilhadas. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2019, pág. 13.
[17] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Flecha no tempo, págs. 19-20.
[18] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Flecha no tempo, pág. 21.
[19] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Flecha no tempo, pág. 22.
[20] Luiz Rufino. Pedagogia das encruzilhadas, pág. 88.
[21] Luiz Rufino. Pedagogia das encruzilhadas, pág. 89.
[22] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág. 36.
[23] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág. 37.
[24] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas, pág. 38.
[25] Luiz Rufino. Pedagogia das encruzilhadas, pág. 21.
[26] Luiz Rufino. Pedagogia das encruzilhadas, pág. 20.
[27] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Flecha no tempo, pág. 75.
[28] Luiz Rufino. Pedagogia das encruzilhadas, pág. 21.
Créditos na imagem: Ernst Ludwig Kirchner, Straßenszene, 1926.
[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”SOBRE O AUTOR” color=”juicy_pink”][vc_column_text][authorbox authorid = “47”][/authorbox]
Rafael Haddock-Lobo
Related posts
História da Historiografia
História da Historiografia: International
Journal of Theory and History of Historiography
ISSN: 1983-9928
Qualis Periódiocos:
A1 História / A2 Filosofia
Acesse a edição atual da revista