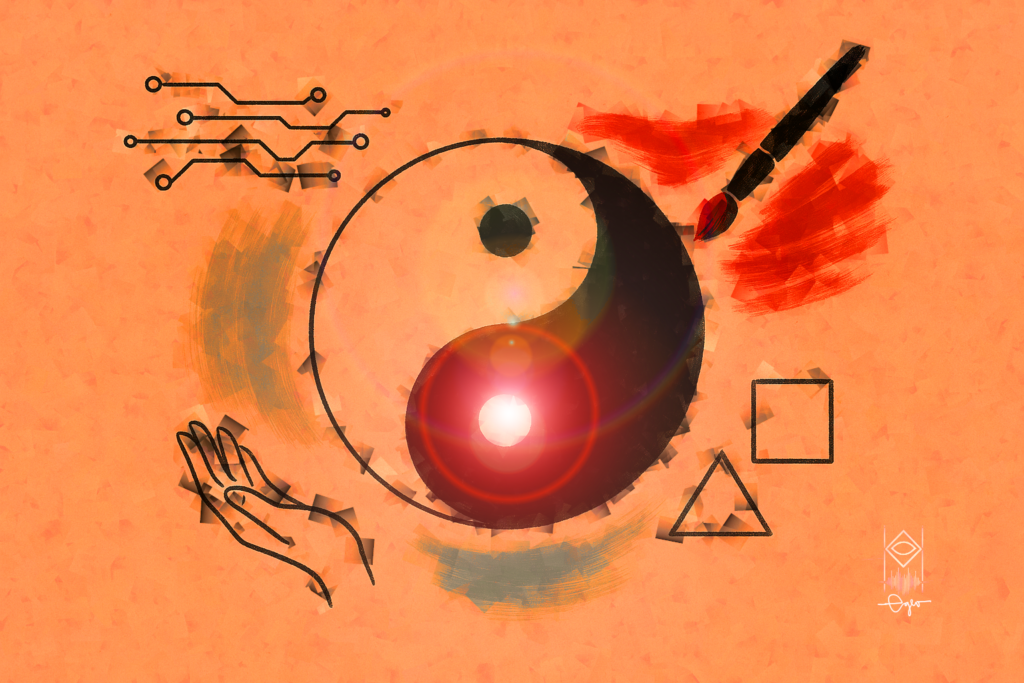“Demorou 45 anos, mas o futuro chegou. E pode não ser tão bonito quanto nós, ingenuamente, acreditávamos.”
egeo
Esse ensaio[1] é fruto de tanto pensar sobre o assunto — e de tanto escutar, por parte dos docentes, as advertências e queixas em relação ao uso das IAs pelos discentes. É resultado também da minha própria experiência de vida, tanto como aluno, pós doutorado da condição de eternamente aluno, quanto como usuário de todo tipo de tecnologia que tenha me caído em mãos (e que meu bolso pudesse pagar…), inclusive na condição privilegiada de programador de microcontroladores. Desnecessário dizer que sou apaixonado por essas “traquitongas”.
Me recordo com clareza das discussões que mantínhamos, eu e colegas no instituto de física da UFRJ, idos de 1981, especulando sobre quando é que teríamos à nossa disposição os computadores inteligentes que apareciam nos filmes de ficção que estavam na moda. Os prognósticos variavam, desde jamais até um século ou mais. Tive a sorte de viver o suficiente para saber a resposta: demorou 45 anos, mas o futuro chegou. E pode não ser tão bonito quanto nós, ingenuamente, acreditávamos.
I. O Sistema e os Corredores Feridos
O sistema educacional vem, já de longa data, fazendo o possível e o impossível para captar e manter alunos e alunas. Há políticas, louváveis e importantes, de inclusão em todos os níveis. Contudo, esse mesmo sistema abriu mão de praticamente todo e qualquer mecanismo avaliativo, assim como afrouxou os de cobrança a si mesmo, como intermediador e guardião do processo educativo. O resultado é que atingimos um ponto insustentável e, talvez, sem retorno.
Hoje, em todos os níveis da educação — seja no básico, superior ou técnico — o cenário é desolador. Indivíduos se esforçam desesperadamente para se manter nos cursos, mas em condição deplorável, apresentando deficiências elementares de formação, como leitura, escrita, organização do pensamento e retórica. São como inválidos que se arrastam sangrando no asfalto de uma maratona que não respeita seus corpos nem suas histórias. Enquanto isso, um pequeno grupo de afortunados — os corredores de elite — desfruta dos privilégios de uma formação sólida, aprofundando ainda mais o abismo entre os que correm e os que rastejam.
Vou contar uma experiência que tive, muitos anos atrás. Era professor numa grande escola técnica, no RJ. Gegê era aluno do curso de eletrotécnica. Já contava cerca de 60 anos e era tão esforçado quanto sobrecarregado por deficiências graves de formação básica. O curso era de modalidade pós médio, ou seja, pressupunha que o aluno tivesse concluído o ensino médio. Mas Gegê mal conseguia escrever, mesmo sendo o mais aplicado da turma, o primeiro a chegar e último a sair, como se o tempo extra pudesse compensar as décadas de abandono. E num desses dias, após a aula, ficamos apenas os dois em sala, eu tentando dirimir dúvidas dele. A essa altura já existia uma camaradagem entre nós, e eu arrisquei a pergunta que não me saía da mente: — Gegê, você tem mesmo o ensino médio?
Ele baixou a cabeça, envergonhado, e disse: — “Professor, não vou mentir pro senhor, eu comprei o diploma. Fui lá, fiz uma provinha boba e me deram o diploma.”
Entrei em parafuso. Minha obrigação era comunicar à direção da escola. Coisa inútil, claro, a escola faria vista grossa e eu bem sabia disso. Dividido entre o senso ético e o carinho e respeito que sentia pelo esforço do Gegê, me calei. Eu tinha a consciência de estar colocando minha parcela de ferrugem na engrenagem. E sei, perfeitamente, que há incontáveis Gegês, nesse exato momento, usando IAs para compensar certificados comprados — obtidos em rifas, bingos, ou em provinhas simbólicas aplicadas em algum galpão — e espalhados por esse imenso Brasil de abandonados pelo sistema educacional. Quem sou eu para criticá-los?
Então, é nesse cenário que, de forma repentina e avassaladora, surgem as inteligências artificiais: muletas de fibra de carbono, cadeiras de rodas elétricas, próteses cognitivas de toda ordem. São ferramentas que podem — e devem — ser utilizadas por aqueles que foram abandonados à própria sorte por um sistema que os produz e, em seguida, os desampara. Criticar um manco por se apoiar numa muleta? Um paraplégico por se locomover com auxílio de um motor? Um cego por usar bengala com sensores? Esse é o tipo de crítica que se escuta cada vez mais, vinda justamente de quem há décadas silencia sobre a tragédia da formação precária. Pergunto: Isso é justo?
II. A Chegada das Próteses
Essa não é a primeira vez que uma tecnologia ameaça “desequilibrar” o jogo da inteligência humana. Lembremos do momento em que as calculadoras de bolso tornaram-se acessíveis, e eu me lembro muito bem: houve resistência, críticas ferozes, acusações de que os alunos iriam desaprender matemática. Depois, com os primeiros PCs, a história se repetiu: diziam que ninguém mais escreveria, que o pensamento se perderia no meio das teclas.
Mas a verdade é que cada nova tecnologia, ao entrar no cotidiano, redesenha as exigências cognitivas. A calculadora não nos tornou burros, apenas nos desobrigou de tarefas repetitivas, permitindo que o foco se deslocasse para a resolução de problemas. Os processadores de texto não destruíram a escrita — apenas elevaram o patamar da revisão, da organização textual, da publicação. A inteligência artificial não é o fim do pensamento: é seu novo campo de batalha.
Mas há o reverso da moeda: aqui também, houve a cisão entre o grupo que tinha a condição de fazer o uso adequado da calculadora, e nem por isso desaprendeu a fazer cálculos manuais, e o grupo alijado do processo educacional, que passa a usar a calculadora como tábua de salvação. É disso que estamos tratando aqui.
A grande questão que parece estar entrando na pauta é justamente encontrar a linha que separa o uso ético da trapaça intelectual. Mas essa discussão não pode ser feita ignorando as raízes reais da crise educacional. Sendo mais explícito: o problema não existiria se o sistema educacional tivesse cumprido sua função primária. Formar. E aqui surge um problema real, o monstro da lagoa negra: o maior entrave à utilização adequada das IAs não está nas máquinas, mas nas lacunas do próprio sistema educacional. Um antigo professor de química que tive, costumava dizer: “Quem nada sabe não tem dúvida” — pois nem chegou ao ponto de formular questões. A IA, ao oferecer respostas, exige que o humano seja capaz de perguntar. E isso, hoje, é um luxo cada vez mais raro.
III. Da Calculadora ao Código: O Caminho da Integração
Talvez nenhuma atividade represente de maneira tão clara a integração simbiótica entre humano e máquina quanto a programação de computadores. Desde os tempos dos primeiros circuitos lógicos até os atuais ambientes de desenvolvimento integrados, o programador jamais foi visto como alguém que “trapaceia” por usar o computador — ao contrário, é reconhecido justamente por saber comandá-lo. Sua inteligência não está ameaçada pela ferramenta, mas expandida por ela. E quanto mais sofisticadas se tornaram as ferramentas, mais exigente se tornou o exercício do pensamento por trás do código.
Essa constatação me toca pessoalmente, pois minha experiência como programador — seja na programação de microcontroladores, no desenvolvimento web ou na arquitetura de sistemas complexos — sempre foi marcada por uma intensa parceria entre criatividade e cálculo, entre lógica e intuição, entre o desejo humano e a precisão da máquina. Quando escrevo um algoritmo, projeto uma estrutura de dados ou desenho um layout responsivo para um website, estou, de certo modo, escrevendo poesia técnica: harmonizando estética, funcionalidade e lógica num mesmo ato de criação. A máquina não pensa por mim — mas me ajuda a pensar melhor.
Essa relação só se tornou possível porque carrego uma bagagem que ultrapassa a formação técnica. Embora tenha sido um grande admirador de Descartes, creio que tive a sorte de não levar tão a sério o método cartesiano — que, afinal, encaixota as áreas do conhecimento. Abri mão da compartimentalização do saber; nunca me entrou na cabeça essa conversa de “eu sou de exatas, eu sou de humanas.” Eu, hein! Como diria o Faustão: — Ô ‘loco’, meu!
O que me permite dialogar com inteligências artificiais como as que estão disponíveis não é apenas meu domínio de eletrônica, física ou linguagens de programação, mas também minha vivência como artista plástico, poeta, historiador em formação, leitor de I Ching e observador atento da condição humana. A simbiose com a IA, para ser ética e frutífera, requer justamente essa formação eclética, plural, aberta. Quem só enxerga a IA como substituição ou ameaça talvez esteja preso a uma lógica disciplinar estreita, onde o saber é compartimentado e a inteligência, reduzida a desempenho mecânico. Novamente: essa é a questão que precisa ser tratada antes. Como dizem os ingleses: “First things first”.
A criação verdadeira, mesmo com IA, exige aquilo que nenhuma máquina possui: experiência estética, sensibilidade histórica, desejo de sentido. Usar uma IA não é apertar um botão — é saber formular a pergunta certa, compreender o contexto, ser capaz de julgar, escolher, combinar. É ser o programador do próprio pensamento, dono de si, capaz de se apropriar do próprio potencial e conduzir o código invisível que conecta memória, imaginação e intenção.
Eu desenho, pinto. Iniciei minha vida profissional como artista gráfico, numa prancheta: régua T, esquadros, canetas de nanquim, ecoline, papel e suor. Uma semana de trabalho para construir uma capa de livro, um cartaz. E ai de mim se a xícara de café — minha companheira inseparável — virasse e destruísse meu trabalho. Talvez me colocasse no olho da rua. Hoje, faço o mesmo trabalho em duas horas — talvez menos. Uso tudo o que existe à minha disposição em termos de tecnologia. E sei o que estou fazendo: a mesmíssima coisa que fazia antes de o primeiro PC surgir. A diferença é que, hoje, a xícara não aparece mais nos meus pesadelos.
Essa metáfora nos ajuda a compreender o papel que as inteligências artificiais podem ocupar na criação intelectual mais ampla. O artista, o historiador, o poeta ou o professor e, claro, o aluno e a aluna, quando conscientes de seu processo, não estão renunciando à autoria ao usar uma IA — estão programando, compondo, orquestrando com uma nova linguagem. O que deve ser criticado não é o uso da ferramenta, mas a ausência de domínio sobre ela. Não é a prótese que degrada o corpo, mas a falta de consciência sobre como e por que ela está ali.
IV. A Responsabilidade de Oppenheimer
Talvez este seja o momento de devolver a bola — ou a bomba — ao colo de Oppenheimer. Criamos o monstro? Pois então nos cabe o dever de cuidar dele. A academia, a sociedade, todos os envolvidos e interessados, já não podem mais se esquivar. É urgente, inadiável, necessário: incluir essa discussão no cardápio de todos os dias. Não como fetiche tecnológico, mas como problema ético, filosófico, educacional — e talvez, sobretudo, como questão de sobrevivência da inteligência e da autonomia de pensar humanas.
Só há um caminho digno de ser trilhado: aquele em que essa inteligência, a humana, não se curva diante da artificial, mas aprende a dançar com ela — sem perder o compasso, nem a autoria.
GE 革 é isso, o Oráculo adverte.
A troca de pele.
O risco de criar com ferramentas novas sem trair o coração antigo.
Mais do que inteligência artificial, o que precisamos agora é de consciência real.
NOTAS
[1] GE 革 é o ideograma chinês correspondente ao Hexagrama 49 do I Ching, tradicionalmente traduzido como “Revolução” ou “Mudança de Pele”. O termo remete à transformação profunda, à renovação que exige coragem para deixar para trás aquilo que já não serve, a fim de revelar uma nova forma mais autêntica e ajustada ao tempo presente. Escolhi esse símbolo por seu poder metafórico e por sua ressonância com a ideia de que o uso ético e criativo da inteligência artificial pressupõe uma mutação simbólica na consciência humana — não uma substituição, mas uma ampliação de suas potências expressivas.
Curiosamente, “GE” também coincide com a estrutura sonora de egeo — apelido que compõe minha própria identidade — e, de modo ainda mais surpreendente, com o nome do aluno que cito. Tal sincronicidade, involuntária à primeira vista, evoca aquilo que Carl Gustav Jung — grande admirador do I Ching, aliás — chamou de coincidência significativa, ou sincronicidade: eventos externos que se entrelaçam com vivências interiores, sem uma relação causal direta, mas carregados de sentido.
Essa sobreposição de signos — do ideograma chinês à minha assinatura simbólica, passando pelo nome do aluno que me inspira — apenas reforça o entrelaçamento entre destino, linguagem e criação. O símbolo, afinal, é sempre mais sábio do que aquele que o escolhe.
Créditos na imagem de capa: egeoartes