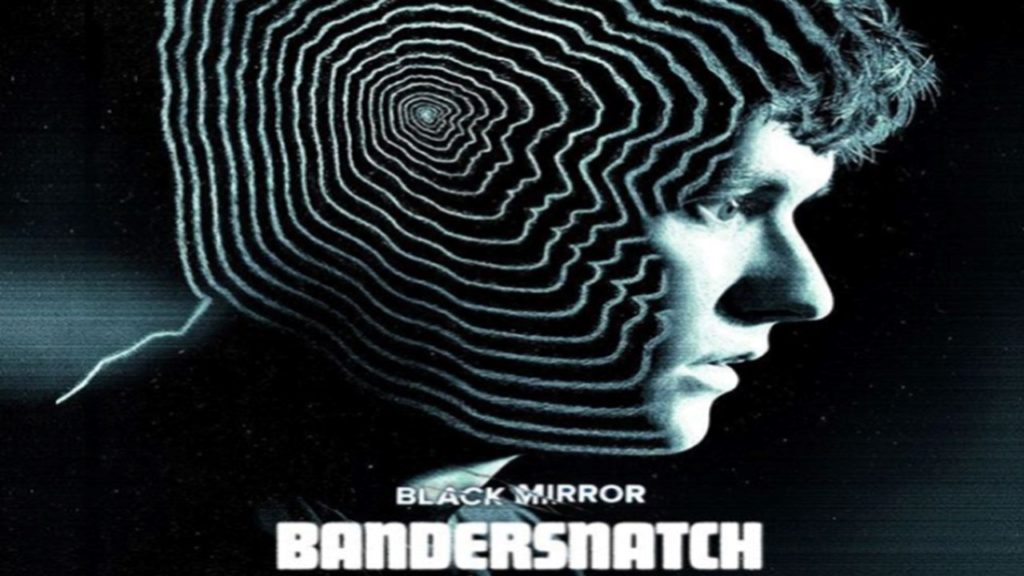O serviço de streaming Netflix resolveu passar para as mãos de seus espectadores, com seu primeiro filme[1], Bandersnatch, lançado em dezembro de 2018, o aparente controle da violência da série Black Mirror. Minimamente entendida por ficção interativa, a recente produção é violenta em todos os sentidos, física e simbolicamente, e sobretudo da forma como a cultura pop coloca, por meio do recurso de interatividade utilizado no filme, o sujeito-espectador como responsável pelas escolhas, pelo controle da vida dos personagens.
Menos moralistas que certas tomadas de posição feitas em roteiros anteriores da série, mas igualmente violentas, todas as opções de escolha dentro de um cardápio limitado (somente duas opções e algumas calcadas no maniqueísmo mais cru) – até mesmo no entender de livre-arbítrio que o filme propõe – exaltam a violência tomando-a, conforme já ressaltava o filósofo esloveno Slajov Žižek no início dos anos 2000, em sua obra “Bem-vindo ao deserto do real! Cinco ensaios sobre o 11 de Setembro e datas relacionadas”, como a grande instância legitimadora do real, isto é, responsável por aproximar a ficção de sua pretensão de se tornar real. Esse real, objeto de estudo do filósofo também em outros momentos, como nos textos de “Violência: seis reflexões laterais”, vem a ser compreendido como “[…] a inexorável e ‘abstrata’ lógica espectral do capital que determina o que se passa na realidade social” (ŽIŽEK, 2014, p. 24). Assim, o real é responsável por abarcar inúmeras formas de violência, mas é, antes disso, a própria violência sistêmica e fundamental desse arranjo de poderes entendido por capitalismo. A estética do real trabalhada em Bandersnatch por meio da ficção é desejosamente violenta, portanto, tal como o real em si, mas a estética desse real é mais que isso, é furiosa, porque não se faz controlar, revelando um processo antropofágico entre ficção e realidade e denunciando vilipêndios praticados pelo capital, embora culminem sempre no desejo pelo real e conquanto este não passe de uma estética simplória ou semblante de seu próprio e enganoso efeito e de uma vã aparência de si.
Passei horas da tarde e noite do sábado subsequente ao lançamento de Bandersnatch e, ao longo de toda a produção, fui capturado por ganchos ou bifurcações do enredo que promovem o controle ao espectador, que dificilmente se livra do filme (muito longe de acabar em um episódio de série de 45 minutos ou uma hora). Uma sensação falseada de controle da realidade, é bom que se diga, justamente porque não sabemos o que vai necessariamente ocorrer depois, no sentido das consequências, a depender da escolha e do grau de gravidade que está contido nela, e porque se trata de uma obra fechada, roteirizada. E não termina por aí.
No filme, são inúmeras as metalinguagens (ou coincidências do real) entre o enredo da obra e o enredo do livro lido e usado por Stefan Butler (personagem de Fionn Whitehead) para construir um jogo, além das imbricações com o próprio jogo que o rapaz produz, com as verdades possíveis em torno de Stefan, sua mãe (vivida por Fleur Keith), seu pai (Craig Parkinson) e o também criador de games Colin Ritman (interpretado por Will Poulter). Isso sem contar nas metalinguagens com a participação do espectador por meio da interatividade. A metalinguagem se encontra até mesmo no fato de o filme discutir bloqueios criativos, invenção de formatos e a supressão executada pela cultura pop na mente de seus produtores, em nome do lucro das grandes empresas que sustentam esses produtores no mercado e que os exploram. Isso porque o filme acaba se tornando um novo formato híbrido, uma mistura de videogame, filme, série e reality show, e nos dá a impressão de ausência de bloqueio criativo por parte do roteirista Charlie Brooker, criador da série, que teima em ficcionalizar o real para que essa ficção se venda como uma possibilidade de controle do real do filme por parte dos espectadores. Autorreferencialidades contidas em falas dos personagens também se encarregam de adiantar cenas, finais ou explicar momentos da história, aumentando a sensação de controle e sapiência desse real, dando ao espectador a ideia de saber tudo quando quiser, bastando escolher corretamente para isso e podendo, ainda, voltar em escolhas.
Entretanto, como relatado no próprio filme, o livre-arbítrio e a escolha nunca são totais ou independentes. O livre-arbítrio não existe. Está condicionado ao real, segundo Bandersnatch. E o real não se permite controlar, de modo que, ainda que o espectador não execute uma escolha, existe uma escolha feita por trás, tomada automaticamente pela própria sequência do filme. Surge aí outro embate entre ficção e real. Não há controle do real, mas sim e ao menos, a ideia de controle da ficção (também não total, como ocorrido possivelmente nas mãos do roteirista), o que faz com que o filme se torne mais ficcional nesses momentos em que não há escolha, em que só há uma escolha possível ou que somos obrigados a voltar e orientados a adotar outra opção. Desse modo, há um controle prévio e mercadológico nessa ficção – uma ironia contemporânea e ressignificada da “mão invisível” de Adam Smith e a ação da verdade do enredo, construído previamente –, que tem a pretensão de ser real e que visa englobar um grande número de realidades paralelas.
Somando até aqui os joguetes com a ficção e o real, que, embora complexos, são apenas bifurcações de games, mas, ao mesmo tempo, possuem um sentido, e aliando-os ao tempo de duração do filme, percebemos outra armadilha. Passamos, na tela da Netflix, o dobro ou até o triplo do tempo de um episódio comum de Black Mirror, fazendo todas as possíveis escolhas no filme. A cultura pop reinventa formatos o todo tempo, sobretudo com intuito comercial. A fúria do real – o capitalismo violento e opressor – está mais presente na ação mercadológica por trás de Bandersnatch do que na própria narratividade do filme, para além da questão do descontrole do real.
O algoritmo do filme simplifica a vida humana real a uma condição também algorítmica: não há como não tomar posições ou adotar opções. Escolhas já estão feitas, ainda que não as façamos. Embora brinque trazendo o passado para o presente e consiga fugir, em determinados momentos, da linearidade falsa do tempo, com o intuito de dar ao espectador a possibilidade de controlar o real e entrar nesse real, já que o espectador se torna parte da história, sendo referenciado no filme, a vida não dispõe dos retornos que o filme promove. O passado se projeta no presente e no futuro, mas sua tessitura é imutável – bem longe do que supõe o discurso do filme, um desejo de circunscrever a percepção e o domínio humano nas armadilhas do tempo, outra violência do real.
Bandersnatch brinca com a possibilidade de realidades paralelas e dá a entender que nossas vidas seriam outras, caso tivéssemos feito escolhas diferentes. Nesse sentido, o filme tenta explicar a realidade, imergindo num didatismo sobre tempo e espaço. “Pensam que a realidade é só uma, mas são várias, entrelaçadas como raízes. E o que fazemos num caminho afeta os outros. O tempo é fabricado. Pensam que não podemos voltar e mudar tudo, mas podemos. São os flashbacks. São convites para voltarmos e fazermos outras escolhas. Quando toma uma decisão, você acha que ela é sua, mas não é. É o espírito lá fora, ligado ao nosso mundo, que decide o que fazemos, e a gente só tem que acompanhar”, diz o personagem Colin Ritman, sendo essa outra metáfora e metalinguagem do filme – a referida ironia contemporânea da “mão invisível”.
Existe, nesse trecho, uma contradição e outra ironia, que fica por conta, aqui e em outras cenas, quando o filme se lança a dizer que não estamos no controle de nada, que nossas decisões, embora geralmente tomadas entre mais de uma opção, levam-nos a um destino determinado, que não está em nossas mãos, e que as escolhas que fazemos só alteram os meios e os modos como chegamos aos fins, vários possíveis – no filme e na estética furiosa do real. “Então, por que não [se] matar? Talvez seja o que o destino quer. Você é um fantoche. Você não controla”, diz outra personagem (sem nome) do filme, enxergando na morte uma possibilidade menos utópica e mais vívida de libertação. Bandersnatch nos permite encerrar em vários momentos, encurtar a vida (uma metáfora e amostra de opção de libertação, como também a banalização do fim ou do encurtamento da vida do personagem – encurtamento do filme – por meio de atalhos, até mesmo para a produção não se estender muito e não se tornar enfadonha para quem a assiste), permitindo-nos pular para os créditos ou nos dando, antes de esgotarmos as possibilidades do roteiro, outras opções, retomando o passado (flashbacks).
Assim, a desatenção e o deslocamento do ordinário de nossa vida prosaica para a lógica de que estamos dentro da produção e somos responsáveis por diversas ações satisfazem o nosso ego humano e nos iludem de modo a fazer-nos pensar que, se não estamos no controle de nossas vidas, ao menos podemos ter o controle de um real ficcionalizado ou de uma ficção que teima em tomar o lugar do real ou se tornar minimamente real ao se dizer antenada a ele, voltando suas atenções a ele. Estaríamos diante, portanto, de uma suposta “paixão pelo real”, mas que se configura, na aritmética das operações entre ficção e real, numa “paixão pelo semblante”, num esvaziamento da realidade e no espetáculo do efeito de real, que, nas palavras de Žižek (2003, p. 26), pode voltar-se inicialmente à ficcionalização e dramatização do real para depois haver a capacidade de encará-lo como tal – mas invisivelmente demudado – ou como pertencente a ele. Alvo de contradição, o efeito de real, na conceituação de Barthes (2004), segue rumo distinto, embora nos encaminhe a uma percepção semelhante à do esloveno. Para o pensador francês, seja por meio da verossimilhança, seja por outro recurso, a narrativa ficcional busca aproximar-se do real e ser encarada dessa forma. No fim das contas, a busca pelo real na ficção ou pela ficção do real, esse semblante ou efeito esvaziado, é a necessidade fetichizada de entendimento e aceitação do real, contudo retirado de sua substância – algo próximo ao que Žižek (2003) chama de realidade virtual:
A Realidade Virtual simplesmente generaliza esse processo de oferecer um produto esvaziado de sua substância: oferece a própria realidade esvaziada de sua substância, do núcleo duro e resistente do real – assim como o café descafeinado tem o aroma e o gosto do café de verdade sem ser o café de verdade, a Realidade Virtual é sentida como a realidade sem o ser. Mas o que acontece no final desse processo de virtualização é que começamos a sentir a própria “realidade real” como uma entidade virtual. (ŽIŽEK, 2003, p. 27; grifos nossos)
Está nessa premissa de Žižek a estética furiosa do real: sua artimanha ardilosa de não se fazer controlar, mesmo em um produto que tem, por objetivo, dar-nos a sensação de que apalpamos o real como ele é e que o controlamos. Entretanto, Bandersnatch, quanto mais imagina aproximar-se do real, mais se distancia dele e mais o esvazia, demuda-o, virtualiza-o. Nesse caminhar, o filme também acaba por denunciar mais ainda a verdadeira agrura da inalcançável busca pelo controle do real: não há nada que o represente ou o aparente como de fato é, mas a ficção pode servir – e, nesse papel, especificamente, para isso – para denunciar as inconsistências do real, suas incomunicabilidades e violências, e, assim, sua estética mais furiosa, o que o capital, nas bases do real e na compressão, supressão e no imediatismo dos anseios humanos e do tempo e espaço do dia a dia, do ordinário da vida prosaica, nem sempre pode dar a ver, mas deixa escapar sorrateiramente nas entrelinhas de seus produtos, como acontece com o filme, cujas máculas (violências) do real estão esteticamente estampadas.
O real, sob o subterfúgio, no enredo do filme, da discussão política e filosófica do livre-arbítrio (citado anteriormente; um dos pontos sobre os quais versa o roteiro de Bandersnatch e uma instabilidade do social escolhida para ser abordada nesse “episódio fílmico” de Black Mirror, a exemplo do que ocorre em cada episódio da série e cada qual com uma temática), é a dimensão menos palatável e a estética mais furiosa, exterior e escapável do filme, justamente por ser a mais desejada e a menos atingível, posto que o real age na obra como verniz ilusório da ficção, a esconder a ontologia insubstancial desta quando ela se propõe a apalpar o real ou visa dele se aproximar e pretere sua própria conjuntura, sua essência, em nome de seu efeito de real. Logo, o real, em Bandersnatch, não obstante inatingível e impresente – mas não ausente –, é a única e melhor aparência de si mesmo, como lembra ainda Žižek (2003, p. 27).
Ficção e real, irmãos gêmeos não idênticos e, por pouco, quase unívocos, não fossem suas confusas, atravessadas e díspares confluências ou formas de imanar a vida humana, travestem-se de si mesmos e do outro a seu bel-prazer nos jogos traçados pelos deslumbres e pelas atribulações do tempo, arremessando-se defronte a nós e ludibriando-nos com nossas vãs necessidades de separação e assepsia, tão didáticas quanto nosso olhar que se traduz na linearidade desse mesmo tempo e suas tramas.
É a retórica Black Mirror. As piores hipóteses e contradições por vezes nos levam às maiores complexidades, tristezas e, ao mesmo tempo, belezas. O filme e a série servem-se de referências de uma cultura tomada por erudita, conversam com inúmeros imaginários, como o nerd (no entendimento da cultura pop), em destaque no filme, voltam-se para uma ideia de “massa”, beiram o sentimentalismo, o grotesco, a ação, a tudo isso e mais um pouco. As reflexões sobre a vida humana também seguem contidas e não são anuladas ou preteridas. O filme é um engenhoso produto e formato híbrido da cultura pop. E, como tal, não esconde possibilidades de discussões mais aprofundadas, mas não abre mão do lucro. Do ponto de vista do entretenimento, as várias realidades paralelas e escolhas correspondem à paranoia de sempre da série, a qual já é esperada, e também evocam experiências estéticas nada ortodoxas.
Mais do que a própria busca por experienciar oportunidades de poder ou controle, Bandersnatch promove uma tentativa de desfiguração do real em sua essência e reconstrução por meio do que desejamos ser o real: um escravo submisso ao nosso poder, que massageie o ego humano e nos divirta, mas não ouse ameaçar a autonomia do homem sábio e supremo, dono de si, ou ser superior a ele. É um retorno infindável à insatisfação da humanidade com sua própria condição de ser humano.
Nesse sentido, a cultura pop executa o movimento de flertar com outro imaginário humano e, em direcionamento a seus anseios mais íntimos, engarrafa e vende viagens experienciais (formas de vida e realização de desejos e experiências possíveis) por um período limitado de horas, as quais brinquem com a mente humana da forma como gostaríamos que nossos desejos fizessem, mas, com as portas da percepção[2] cerradas e com as rédeas do próprio capital e de tantas outras instituições atreladas a ele, mantemos nossos desejos no íntimo, embalsamados em uma cripta e inconfessáveis – algo comum da natureza humana –, como sustenta Agamben (2007, p. 49). Desse modo, o desejo se coaduna a uma imagem (o que está contido na cripta, segundo o autor) e, mais inconfessável que o desejo, é a imagem que fizemos dele, como o controle do real, passível de ser trazido à tona por essa viagem experiencial da interatividade em Bandersnatch, porém não tão inconfessável ou pérfida como nossos desejos e suas imagens embalsamadas na cripta alocada no interior humano. No fundo, o que queremos é destruir o real, porque não o suportamos. Essa é a imagem inconfessável do nosso desejo de “controle” do real. Bandersnatch não é capaz de destruir o real, mas se embasa nele e recorre a ele a todo tempo. Desse modo, a viagem experiencial do filme sobre o real não é tão sórdida quanto o que nossa cripta reserva a esse real. O desejo de destruição do real é o desejo de destruição do capital. E o filme não o alcança, justamente porque é fruto desse mesmo capital.
Perguntamo-nos se seria leviano de nossa parte ponderar que, talvez, a mais engenhosa ciência a jogar com o real, com suas formas de perceber e, minimamente, lançar um entendimento à vida, capaz de tão bem driblar o real ou dele se aproximar, tenha sido a ficção, munida de seu sui generis cientificismo, que sempre ousou lidar com o real e com as possibilidades deste.
A ficção e o real, sempre conflitados em seus caminhos, insistem em tomar o lugar um do outro. E nos fascina como ambos nos enganam. Com a utilização desse híbrido pela Netflix e o controle compartilhado com o público, o controle da ficção passa a ser de qualquer um e, ao mesmo tempo, de ninguém, o que, no final, dá o controle à própria ficção. A ficção é o seu real e somente este tem o controle de si. Parece adverso, mas, afinal, não é disso que se trata, no acerto de contas, o controle incontrolável – a estética furiosa do real – em Bandersnatch?
NOTAS
[1] Também chamado de “evento Black Mirror” ou “filme-evento”. Neste texto, adotaremos, por padronização, a expressão “filme”, na falta de outra terminologia para nomear melhor o formato híbrido do produto. As nomenclaturas “evento” ou “filme-evento” não dizem necessariamente da hibridação de que tratamos aqui.
[2] Fazemos uso dessa expressão em referência à obra homônima de Aldous Huxley, uma das referências tomadas por eruditas (como falamos acima) e utilizadas no filme.
REFERÊNCIAS
Crédito da imagem: O ator Fionn Whitehead em peça promocional para Bandersnatch. (Foto: Reprodução/Instagram – Netflix Brasil).
AGAMBEN, Giorgio. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007.
BANDERSNATCH. Direção de David Slade. Reino Unido: Netflix, 2018. (Tempo variável; 90min. curso normal), son., col.
BARTHES, Roland. O efeito do real. In: ______. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 181-190.
ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do real! Cinco ensaios sobre o 11 de Setembro e datas relacionadas. E-book. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003.
______. Violência: seis reflexões laterais. E-book. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014.
[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”SOBRE O AUTOR” color=”juicy_pink”][vc_column_text][authorbox authorid = “22”][/authorbox][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]