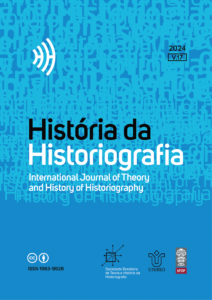Jozimar Paes de Almeida é Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP, 1987) e Doutor em História Social, com ênfase em História da Ciência, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP, 1993). Professor Associado do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina (UEL) desenvolveu pesquisas interdisciplinares nas áreas de História, Meio Ambiente, Ciência e Educação. Com uma trajetória acadêmica marcada pela reflexão crítica e interdisciplinaridade, tem diversas publicações que exploram a relação entre história e ecologia. Entre suas principais obras destacam-se: A Extinção do Arco-Íris: Ecologia e História, Biodiesel, o “Óleo Filosofal”: Desafios para a Educação Ambiental no Caldeirão do “Desenvolvimento Sustentável” e Errante no Campo da Razão: O Inédito na História; Contribuição para um Estudo de História e Ecologia.
Nesta entrevista, o professor abordará questões contemporâneas sobre ecologia, sustentabilidade e os desafios ambientais do século XXI, refletindo sobre a relação entre ciência, sociedade e políticas públicas.
Patrícia – Professor, em sua trajetória acadêmica, o senhor escreveu obras importantes que tratam a Ecologia em uma perspectiva histórica, como A Extinção do Arco-Íris: Ecologia e História, Biodiesel, o “Óleo Filosofal”: Desafios para a Educação Ambiental no Caldeirão do “Desenvolvimento Sustentável” e Errante no Campo da Razão: O Inédito na História; Contribuição para um Estudo de História e Ecologia. Qual foi o ponto de partida para o desenvolvimento desses trabalhos?
Jozimar – Como historiador, considero-me fruto de minha época, inserido nas condições sociais que me constituíram. Na década de 1960, vivenciava-se uma intensa atuação de uma sociedade capitalista industrial e tecnológica, fundamentada na rápida e massiva transformação de objetos e elementos naturais em mercadorias. Essa perspectiva abrangia essencialmente um ideário consumista, sustentando a dinâmica do processo produtivo. Como consequência, surgiu uma cultura que, em contraposição, questionava esses valores e práticas. Movimentos políticos contestatórios foram criados, principalmente, na Europa Ocidental. Entre eles, destaco o Socialismo ou Barbárie, formado por socialistas autonomistas e libertários críticos do comunismo autoritário estatal. Esse movimento reunia inúmeros artistas e pensadores organizados em coletivos. Diante dessas condições complexas, considerei que o historiador não deveria se limitar apenas à análise da dinâmica das relações humanas ao longo do tempo. Era essencial também reconhecer que somos parte da Natureza e que, como tal, temos a capacidade de realizar profundas transformações no ecossistema, gerando consequências que inevitavelmente nos impactam de diversas maneiras. Alguns denominam nossa era atual de Antropoceno, reconhecendo que, enquanto espécie, interferimos profundamente no equilíbrio do ecossistema a ponto de colocarmos em risco nossa própria existência.
Em decorrência dessa compreensão, tomo como ponto de partida a noção de que o ser humano, sujeito e objeto desse processo, é simultaneamente um ser cultural, histórico e biológico. Dessa forma, a relação entre homem e natureza ocorre de maneira interdependente, produzindo e resultando em ações que emergem dessa interação.
A ação humana orienta e transforma a matéria natural, conferindo-lhe uma forma específica de acordo com as intenções e habilidades de seu criador. Assim, a natureza adquire uma utilidade determinada pelos valores sociais e uma durabilidade inerente à sua constituição material e ao modo como é utilizada.
No processo simultâneo de criação e modelação desses produtos — e de si mesmo —, o próprio criador se modifica, tanto metabolicamente quanto mentalmente, adquirindo conhecimento e experiência em um movimento de transformação que é, ao mesmo tempo, reflexivo e contínuo. Em outras palavras, criamos e somos criados nesse processo dinâmico e dialético.
Esse modo de produzir a nossa própria vida, segundo um modelo econômico baseado na produtividade, é frequentemente aferido de forma positiva quando resulta em rápidas e amplas modificações no ecossistema. No entanto, essa lógica nos leva a reconhecer que a questão ambiental deve ser priorizada, pois sua profundidade ultrapassa qualquer outro conflito do nosso tempo.
Patrícia – A contracultura dos anos 60 e 70 trouxe à tona uma forte crítica ao consumismo e ao modelo de desenvolvimento hegemônico, promovendo práticas alternativas mais alinhadas com a sustentabilidade. Como o senhor percebe a relação entre as reflexões ecológicas contemporâneas e o legado das práticas e ideais contraculturais desse período? É possível identificar continuidades ou rupturas significativas entre esses movimentos e as lutas ambientais atuais?
Jozimar – A contracultura, como um movimento amplo e disperso, foi voltada à crítica da estrutura produtiva e de consumo criada pelo aparato industrial, sustentado pelo Estado e dirigido pelas classes e grupos da elite econômica. Nesse contexto, o movimento promoveu inúmeros happenings e eventos culturais, artísticos e musicais, protestando contra as guerras imperialistas, tanto da URSS quanto dos EUA. Expressou uma leitura e atividade contestatória à mecanização produtiva dos objetos e até mesmo da nossa própria espécie. Durante um período significativo, essas atividades se expandiram e multiplicaram, ganhando adeptos de diversos grupos sociais: cooperativas de produtores e consumidores, grupos espirituais e esotéricos, políticos, cientistas, poetas e jornalistas. Podemos considerar que, em certo momento, alcançaram um elevado grau de reconhecimento social global.
Como meu foco de análise se insere na história e na ecologia política dentro desse contexto contracultural, é importante observar que a maior parte das organizações e movimentos não direcionaram suas críticas exclusivamente ao modo de produção do aparato do Estado capitalista, nem ao comunismo autoritário, que se comportou de maneira similar, mas com consequências catastróficas pela ausência de controle sobre a destruição que promoviam. Argumentavam que tais ações eram justificadas pela destruição de suas estruturas produtivas na Segunda Guerra e pelo contexto da Guerra Fria.
No entanto, uma crítica mais profunda ao capitalismo foi realizada apenas por poucos autores e movimentos inseridos em uma perspectiva socialista autônoma e libertária. Um exemplo emblemático dessa crítica está na frase lapidar de Eduardo Galeano, escritor uruguaio, que revela muito do que pode ser compreendido como ruptura e continuidade. Para ele, a visão de uma ecologia neutra, que mais se assemelha à jardinagem, torna-se cúmplice da injustiça de um mundo onde comida sadia, água limpa, ar puro e silêncio não são direitos de todos, mas privilégios dos poucos que podem pagar por eles.
Assim, sem a perspectiva crítica ao modo de produção inserida na luta de classes, a ecologia política reinventa a crítica ao capitalismo, destacando sua prática utilitarista e consumista, sua concepção de progresso e desenvolvimento vinculados ao crescimento da produção, além da ciência e da técnica a serviço da degradação e da dominação.
Patrícia – Os conceitos de sustentabilidade e ecologia passaram por diversas ressignificações ao longo do tempo, muitas vezes sendo apropriados por discursos de mercado e de desenvolvimento econômico. Como o senhor avalia essas mudanças conceituais no campo acadêmico e político? Quais seriam os desafios para resgatar uma visão crítica, especialmente no contexto de educação ambiental?
Jozimar – Enfrentamos uma profunda crítica social proveniente da abordagem ecológica, que considera que uma produção ilimitada não é logicamente possível com recursos limitados, e ela é condição mínima para se refletir de como adequar a qualidade de vida de cada componente da Gaia, nosso planeta vivo, às condições de seus recursos não renováveis e renováveis, sendo que estes últimos podem ser impedidos de sua renovação pelas consequências a que estão expostos em função da atividade de produção humana.
Nossa atual sociedade fez com que se diminuísse a duração da vida dos bens de consumo, que por ironia são chamados de duráveis, e também investe na produção de bens distintos, por terem seu valor ao conceder à seu possuidor uma expressão de status social. O exemplo do chamado desenvolvimento e progresso estadunidense e de parcela da Europa ocidental não é possível de ser estendido à todas nações da terra.
A noção básica da composição sustentabilidade e ecologia buscou uma continuidade do modelo capitalista industrial produtivo tentando manter uma diminuição desse impacto no ecossistema. A intenção é de dar continuidade às formas adotadas para produção sem alterar a essência de seu funcionamento: Natureza é propriedade privada e dela procura-se atingir o maior lucro possível no mercado dominante desse sistema.
Ao analisarmos alguns dos princípios do funcionamento da complexidade do ecossistema pela ótica da termodinâmica constatamos que o nosso planeta, bem como o universo está em processo constante de entropia, significando uma dissipação energética levando-nos a uma morte térmica.
Ora, como poderia ocorrer uma sustentabilidade inserida nesse sistema, sendo impulsionados inclusive pelo modo de produção dominante?
Devemos, portanto considerar que mesmo em um dos mais perfeitos equilíbrios homeostáticos, quando ocorre uma menor perda de energia, pela natureza com o seu funcionamento sinfônico do ecossistema, existirá o processo entrópico de liberação de energia, que poderá ser acelerado progressivamente dependendo de como o homem irá realizar a sua produção. A homeostase, propriedade autorreguladora com tendência de equilíbrio de um sistema vivo é característica de sua complexidade, seja ele natural ou, do “subsistema humanidade”, ambos proporcionais à diversidade natural/cultural. Na ecologia, existem alguns fundamentos extremamente importantes, entre estes a compreensão que certa estabilidade ecológica é alcançada quando ocorre biodiversidade, expressão de variedade e complexidade de espécies que são interdependentes entre si, forjadas neste processo e com capacidade de modificar o espaço físico. Lembremos que os seres vivos parecem contradizer este princípio da entropia, por gerarem uma organização molecular, neguentropia, no sistema de decomposição do mundo realimentando-o pelo nascimento de novos seres.
Patrícia – Diante dessa ressignificação dos conceitos de sustentabilidade e ecologia, como o senhor enxerga o papel da educação e da produção acadêmica na construção de narrativas que questionem o “desenvolvimento sustentável” como um modelo dominante? Existe espaço para incorporar abordagens mais radicais, como as propostas pelos movimentos contraculturais, em práticas educacionais e projetos ambientais?
Jozimar – Tenho o posicionamento de que não é possível trabalhar no campo da educação ambiental com o conceito e a prática do “Desenvolvimento Sustentável” sem antes reconhecer a historicidade do termo desenvolvimento. Pois este é compreendido como a ampliação da produção e a transformação da natureza em mercadorias, o que, em vista da aceleração da entropia e da dissipação energética, invalidaria a sustentabilidade, configurando uma contradição nos próprios termos.
Se o conceito de desenvolvimento fosse ressignificado — o que não depende da vontade de grupos ou setores específicos, mas do domínio hegemônico da elite no poder — isso implicaria em um movimento contrário às suas próprias estruturas e conjunturas que as construíram, resultando em uma derrocada desse poder. Seria superado por uma consciência ecológica capaz de vislumbrar a extinção desse modelo e até mesmo da humanidade, caso os pressupostos atuais continuem a prevalecer.
Mesmo no mundo acadêmico, que está intrinsecamente vinculado aos valores desse desenvolvimento capitalista — que nada têm de sustentabilidade, como comentei anteriormente —, as análises de pesquisadores adotam essas terminologias para garantir acesso a bolsas de pesquisa, publicações, programas de pós-graduação e, enfim, à infraestrutura acadêmica. Isso é o que se pode chamar de servidão acadêmica.
Para que a educação e a produção acadêmica possam ultrapassar a hegemonia da ideologia produtiva liberal e neoliberal, é necessário atuar na crítica a essa dominação. A ação da contracultura, nesse contexto, surge como uma das principais alternativas para esse combate.
Patrícia – Os movimentos ecológicos atuais, como International Climate Movement — Fridays for Future e Extinction Rebellion, têm adotado estratégias de mobilização global e ações diretas para chamar atenção à crise climática. Na sua visão, como esses movimentos dialogam com os ideais e práticas das lutas ambientais e contraculturais das décadas de 60 e 70? Quais elementos desses movimentos passados ainda ressoam hoje, e o que mudou nas formas de resistência e engajamento?
Jozimar – Esses movimentos são como um ecoar distante no tempo de inúmeras organizações ambientalistas que iniciaram suas críticas ao processo destrutivo do ecossistema tais como: Friends of Earth, Greenpeace, WWF, Sea Shepherd, Blueprint for Survival, Aliança dos povos da floresta, SOS Mata Atlântica, entre outros.
A capacidade de mobilização de grande parcela da população em eventos midiáticos e happenings continuam a exercer seu importante papel de superarem o controle midiático empresarial, no entanto, como se tratam de eventos ambos não se infiltram de forma permanente no decorrer do cotidiano, comportando-se mais como vento que passa pela sociedade resfriando corações e mentes, como um alívio passageiro.
A profunda estrutura educacional controlada pelo estado e, por sua vez, dominada pelos pressupostos do modelo de produção não é atingida por aqueles conceitos fundamentais de ecologia, disfarçando assim, em lutas episódicas e emotivas em relação a algumas espécies de animais selvagens escolhidos ou pelos domésticos. Assim, representantes são eleitos em câmaras legislativas municipais, estaduais e federais com objetivos de proteção de animais ou lugares naturais sem correlacionar a degradação desses seres e elementos com o modelo produtivo hegemônico, operam assim, como maquiadores, atuando sobre a superfície da questão evitando a raiz do problema.
Patrícia – Professor, considerando sua experiência e produção acadêmica, quais leituras o senhor indicaria para aprofundar os temas de ecologia, sustentabilidade e contracultura? Existem obras que o senhor considera essenciais ou particularmente relevantes para compreender a interseção entre esses campos?
Jozimar – No campo da complexidade ecológica, destacaria as seguintes obras: O Método II: A Vida da Vida, de Edgar Morin; A Teia da Vida, de Fritjof Capra; e Sociedade contra a Natureza, de Serge Moscovici.
Na área da ecologia política, as contribuições de Cornelius Castoriadis e Daniel Cohn-Bendit, em Da Ecologia à Autonomia; Herbert Marcuse, com A Ideologia da Sociedade Industrial; Vandana Shiva, em Biopirataria: A Pilhagem da Natureza e do Conhecimento; e Jozimar Paes de Almeida, com Ecossocialismo e a Contribuição de Seu Ideário Político, disponível em: https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/view/33776/pdf.
Quanto à inter-relação com a história ambiental, destaco as obras de Antonio Carlos Diegues, O Mito Moderno da Natureza Intocada; John McCormick, Rumo ao Paraíso: A História do Movimento Ambientalista; e Joel Kovell, The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the End of the World.
Créditos da imagem da capa: Registro de Jozimar Paes de Almeida. Arquivo pessoal do autor.
Patrícia Marcondes de Barros
Related posts
Notícias
História da Historiografia
História da Historiografia: International
Journal of Theory and History of Historiography
ISSN: 1983-9928
Qualis Periódiocos:
A1 História / A2 Filosofia
Acesse a edição atual da revista