Para Carla Rodrigues, Dona Padilha e Pomba-Gira de Maceió
No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança
E dentro da menina, a menina dança
E se você fecha o olho, a menina ainda dança
Dentro da menina, ainda dança
Até o sol raiar, até o sol raiar
Até dentro de você nascer, nascer o que há!
(Antonio Pires / Luiz Galvao)
Abre a roda, deixa a pomba gira trabalhar
Abre a roda, deixa a pomba gira trabalhar
Mas ela tem, ela tem peito de aço
Ela tem peito de aço e coração de sabiá
(Ponto de Pomba Gira)
Há dez anos, minha amiga e referência para questões de gênero Carla Rodrigues lançava seu livro Coreografias do feminino[1]. O texto, em sua quase totalidade, eu já conhecia, mas havia nele algo que, naquele momento, gritava a meus olhos: sua capa. Sempre me chamou a atenção aquele corpo feminino, com os braços levantados, negro e nu, e um pano vermelho, entre véu e capa, esvoaçante, cobrindo o rosto daquela enigmática figura, enquanto o fundo, também vermelho, parecia servir de cenário para alguma dança que está para começar. Na contracapa, por sua vez, o fundo mais escuro contrastava-se com o vestido vermelho que, sem corpo, flutuava entre-dois, como o élitro aludido nas esporas de Nietzsche de Derrida[2], enquanto, nas orelhas, mãos negras nos ofereciam as apresentações do livro e da autora.
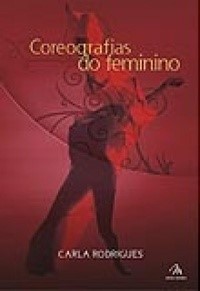 Mulher, gênero, movimento e dança são, neste livro, dedicados a Emma Goldman, a feminista que se perguntava de que valeria a revolução se ela não pudesse dançar, conquanto a imagem que o artista gráfico Gracco Bonnetti cria a partir e para a obra de Carla Rodrigues nos diz mais: ele vê na escrita de Carla as cores, matizes com as quais ela, aliás, sempre trabalhara, os sexos, os gêneros e as raças – mostrando que a escrita da autora é, e sempre foi, tecida em perspectiva descolonizadora.
Mulher, gênero, movimento e dança são, neste livro, dedicados a Emma Goldman, a feminista que se perguntava de que valeria a revolução se ela não pudesse dançar, conquanto a imagem que o artista gráfico Gracco Bonnetti cria a partir e para a obra de Carla Rodrigues nos diz mais: ele vê na escrita de Carla as cores, matizes com as quais ela, aliás, sempre trabalhara, os sexos, os gêneros e as raças – mostrando que a escrita da autora é, e sempre foi, tecida em perspectiva descolonizadora.
Mas quem é tal figura, ou quem são tais figuras que, dançando, corpo negro nu ou vestido vermelho flutuante, desenham a coreografia entre masculino e feminino? Tal é a fábula que, aqui, pretendo perseguir, através de um passeio pelas ruas e pelas noites, à espreita de encontros possíveis e impossíveis para pensar essa pluralidade de corpos, sexos e gêneros, transitantes, transeuntes, transantes, entre vida e morte: espectros vadios, prostitutas, cafetões, malandros, mendigas, ciganos que, apenas eles, podem nos ajudar a pensar afirmativamente a precariedade do que entendemos por gênero.
X
Primeiro Ponto: “Exu que tem duas cabeças”
A lógica do suplemento, que Preciado aprende com Derrida e transporta da relação fala / escrita para pensar a anterioridade do dildo[3] com relação ao pênis e que se instaura como denúncia ao privilégio falocêntrico na cultura ocidental, pode também – e, talvez, em uma filosofia de terras tupiniquins[4] – ser pensada afroperspectivamente, através de alguns personagens melanodérmicos, como nos ensinam Renato Nogueira e Marcelo Moraes[5]. E, se é dos gêneros das ruas que pretendo aqui brevemente tratar, estes fragmentos não poderiam se iniciar sem que meu padê filosófico fosse arriado nessa encruzilhada da academia, e que a figura de Exu, o orixá iorubano, fosse, aqui e agora, invocada. Mas pensar a desconstrução do falocentrismo a partir da figura de Exu, figura sempre considerada como o representante maior do poder fálico, não seria um absoluto contrassenso? Acredito que não.
Quando desafiado a escolher entre uma cabaça que continha o mal e outra que continha o bem, Exu saca uma terceira cabaça de sua bolsa, faz nela um furo, mistura os pós contidos nas duas e, entre veneno e remédio, inventa o phármakon[6], tornando-se, por essa razão, Igba Ketá, o senhor da terceira cabaça[7]. Vários itans versam sobre os dois lados de Exu, vários pontos aludem a suas duas cabeças, e sua invocação, como nos ensina a Pedagogia das Encruzilhadas de Luiz Rufino, significa cantar para baixarem seus princípios de mobilidade e de criação de possibilidades[8]. Depois de passar dezesseis anos aprendendo com Oxalá como este fabricava os pés, as mãos, os olhos, os pênis e as vaginas, Reginaldo Prandi nos conta que Exu ganha sua morada na encruzilhada e, junto com sua casa e seu trabalho, ganha também sua ferramenta e sua arma, o Ogó, um poderoso porrete em forma de pênis de cuja base pendem duas grandes cabaças[9]. Ou seja, após observar e ter aprendido tudo sobre a criação dos sexos, ele se torna o guardião dos caminhos que se cruzam e, só ele, pode propiciar e permitir que haja cruzamento, só ele tem o poder do cruzo, mas também da dissimulação, da mentira, da galhofa, da gargalhada e da transgressão.
E é também desde então que ele empunha seu símbolo do poder que, vindo do cruzo, não é um, mas sempre dois, e que, por ser o encontro entre-dois, não sendo por isso nunca apenas dois, passa a ser três e daí em diante. O ogó, para além do poder fálico tal como concebe o ocidente, é o instrumento de guarda do local em que duas diferenças, dois caminhos se encontram e se tornam mais-que-dois, é o poder de uma singularidade radical, constituída no cruzamento de duas forças que, nem bem nem mal, nem homem nem mulher, deixam-se representar dildologicamente por uma representação hiperbólica do órgão masculino, feito de madeira e cabaças, que, artesanal, artificial, não pode nunca ser origem de coisa alguma, pois só adquire seu poder de força caso seja erguido, portado, por aquele que gargalha, dissimula e que, com suas duas cabeças, dança e reina em suas sete (ou mais) encruzilhadas.
X X
Segundo ponto: “Madeira que não dá cupim”
Em nossas terras, o nome Exu vira desígnio do “povo de rua”, e, nos chamados exus de umbanda, toda masculinidade parece também permanecer exaltada, através das canções que louvam essas entidades do sexo e do corpo, suas mulheres conquistadas, seu poder de sedução, seu charme e assim por diante. Talvez, aqui para nós, o melhor e mais conhecido personagem para pensar tais questões genéricas seja Tranca Rua, o capitão das encruzilhadas e ordenança de Ogum, pois, como canta o ponto, “Seu Tranca Rua é uma beleza, eu nunca vi exu assim / Ele é madeira que não dá cupim”.
Suas manifestações, que incorporam toda a performance masculina do começo do século vinte, trazem o terno, a gravata, a cartola e a bengala como símbolo de poder fálico-econômico, mas tanto estas como mesmo suas alegorizações mais satânicas, com tridentes na mão e chifres, rabos ou outras partes de animais, já mostram a precariedade dessa masculinidade europeia quando pensada sob a desconstrução diaspórica. Aquele que usa o traje europeu e que diz que na encruza é doutor, é o mesmo que é esculpido e pintado como animalesco e diabólico (chamando atenção também à dualidade do diabo): negro e pobre, falando pretuguês, nessa paródia, ou melhor, nesse escracho da pompa do branco elegante e rico, Tranca Rua, doutô das encruza, abala radicalmente esse modelo branco masculino.
Ele é madeira que não dá cupim, com certeza, porquanto isso não se dê por causa de sua dureza ou sua nobreza; Tranca Rua é uma beleza pois sua madeira não é madeira de lei, mas sim a mais comum, a mais banal e, por isso, a mais flexível, aquela que, quando exu pisa no toco, pisa no galho, o galho balança, mas exu não cai, ô ganga. Esse toco de um galho só, vagabundo e precário, é aquele justamente que não dá cupim, mostrando seu valor frente à madeira de lei corroída pelo carrego colonial[10]. Do mesmo modo, quando vestido com o traje de doutor ou com a batina do padre cuja mancha de dendê fica aparente para todos, Tranca Rua perverte estas performances coloniais, mostrando que qualquer um pode encená-las e que, nelas, não há nobreza alguma.
Contudo, não esqueçamos, Tranca Rua é homem. Mas, com uma masculinidade outra, escrachada e precária, ele debocha da retidão fálica em sua performance, como nos lembrando um ponto que eu adoro e que Rufino firma em sua Pedagogia: “Exu Tranca Rua é homem / promete pra não faltar / quatorze carros de lenha / pra cozinhar a gambá / A lenha já se acabou / e a gambá tá pra cozinhar”[11].
X X X
Terceiro Ponto: “Só não maltrate o coração dessa mulher”
O corpo encantado das ruas, de Simas, nos conta a saga de Zé Pelintra que dos catimbós do nordeste chega à Lapa carioca. Pernambucano, depois de um tempo morando em Recife, na rua da Amargura, perto da zona boêmia, deixa a cidade e parte para percorrer os sertões devido à desilusão de seu amor por uma certa Maria. Simas nos lembra o ponto que narra essa história e que diz que “Na rua da Amargura / onde seu Zé Pelintra morava / ele chorava por uma mulher / chorava por uma mulher que não lhe amava”[12]. Em suas peregrinações por Alagoas e Paraíba, Seu Zé é iniciado no culto da Jurema sagrada e, herdeiro do saber dos caetés, torna-se mestre juremeiro.
Chegando ao Rio de Janeiro, trazido na diáspora nordestina, ele ganha sua navalha e se transforma no malandro carioca, vadiando pela Lapa e morando no morro de Santa Tereza. E o ponto, que antes falava da rua da Amargura do Recife onde seu Zé Pelintra morava, agora faz menção à morada na época de sua morte: “O morro de Santa Tereza está de luto / porque Zé Pelintra morreu / ele chorava por uma mulher / chorava por uma mulher que não lhe amava”. Interessante pensar que essa figura que transita entre cidades e sertões, do catimbó nordestino à umbanda carioca, que usa desde chapéu de palha ao Panamá, sem blusa ou de terno de linho, descalço ou de sapato bicolor, bebendo a jurema sagrada ou uma cerveja gelada, ele tem como elemento constante em suas estórias a referência ao choro pelo amor não correspondido. Seu Zé, quando vem de Alagoas ou mesmo da lagoa, ele toma cuidado com o balanço da canoa e pode fazer tudo o que quiser, contando que não maltrate o coração de uma mulher.
Ser em trânsito[13], o malandro tem como sua característica maior a adaptação às mudanças para preservar sua existência. Por sua natureza móvel e, por sua transitoriedade, se torna o guardião dos corações femininos, aquele que, com toda sua sedução, seus galanteios e mesmo sua canalhice, tem como tarefa proteger as mulheres daqueles que escamoteiam sua malandragem e, esses sim, os homens hipócritas, pretensos cavalheiros e homens de bem, são os verdadeiros cafajestes em sua performance masculina: os príncipes encantados perfeitos que querem suas esposas belas, recatadas e do lar – é sobre esses que Zé Pelintra vem, nos terreiros, alertar.
X X X X
Quarto ponto: “Aquela casinha pequenina lá no alto da colina”
Essa coexistência em uma mesma figura daquele que porta a navalha e que chora, que sempre está pronto para a briga e que se torna um guardião dos e das desprotegides, pode ser muito bem ilustrado por um dos personagens melanodérmicos com uma das mais interessantes performances de gênero de nossa história: Madame Satã.
Se seu nome, por si só, já não desconstruísse o dualismo dos gêneros, o malandro carioca, nascido João, também pernambucano como Zé Pelintra, foi menino de rua, capoeirista, transformista, presidiário, assumidamente homossexual, casado com uma outra Maria e pai zeloso de seis filhos de criação. Se Simas e Rufino dizem que “as travessias dos malandros são pelos caminhos das ambivalências”[14], Marcelo Moraes e Adriano Negris nos mostram a radicalidade específica desse malandro:
O único peso é a navalha que carrega no bolso e a única leveza é a da mão que entra nos bolsos alheios e traz o alimento do dia. (…) Um analfabeto que escreve. Um marginal que é madame. Uma madame que é satânica. Um gay viril. Madame Satã não era nem seu nome. Seu nome era: João Francisco dos Santos. Três nomes que fazem referência ao religioso, ao sagrado. Nomes de santo num corpo de satã. Uma Madame Satã dos Santos. Um pecador com nome de santo. Salve todos os santos, salve Madame Satã, hoje padroeiro da Lapa.[15]
Essa sua navalha que escreve, que escreve através de uma política marginal do corpo, fez desse herói-bandido uma potência de performances como talvez nunca se tenha visto, pois Madame Satã era também o Caranguejo, a Mulata do Balacochê, o Tubarão, Jamacy, a rainha da floresta, o Gato Maracajá e o afetuoso pai, João. Após seu último encarceramento no presídio da Ilha Grande, ele passa a morar numa casinha pequenina, no alto da colina que Maria mandou fazer, e lá reside com sua família até sua morte, em 1976. Mas a pergunta que ainda ecoa, de acordo a constância das lágrimas na lógica da malandragem, é se, longe dos palcos, das fantasias, das brigas, de sua escrita-corpo, com sua navalha aposentada, essa casinha pequenina não seria aquela mesma que Mulambo mandou fazer, na qual, segundo o ponto, “o malandro chora e você não vê”.
X X X X X
Quinto Ponto: “Traz um sorriso no rosto e uma arma na saia”
Pensar a potência político-alegórica de Madame Satã é radicalizar a potência pelíntrica da ambivalência dos malandros. Quem é Madame Satã quando baixa em um terreiro? É ele ou ela? Baixa como malandro Caranguejo ou pomba-gira do Balacochê? Como cabocla Jamacy ou como o bondoso preto-velho Pai João de Pernambuco? Talvez, como a máxima potencialidade de flutuar entre masculino e feminino[16], as aspas de Nietzsche[17] e as tesouras de Derrida[18] tornem-se ainda mais hiperbólicas com as navalhas de Satã.
Mas que operação esporante[19] seria essa que, para além das metafóricas aspas e das desconstrutivas tesouras, apenas a Navalha pode fazer? “Mulher de malandro tem nome / e se conhece pela saia / vara curta e onça brava / ela é Maria Navalha”, diz o ponto, mostrando que quando é a mulher quem toma para si e empunha a navalha (pois é ela a dona deste objeto de corte e transição), ela se torna os dois lados da relação, é ela a vara que cutuca a onça e a onça que é cutucada, promovendo o giro, ou a gira radical, para a desconstrução do gênero e da sexualidade[20].
Sujeito e objeto, nem sujeito nem objeto, a Maria que carrega a navalha é aquela que entra em cena para botar tudo em seu lugar (pois, como sabemos, “Ela é malandra não precisa trabalhar / Maria Navalha bota tudo em seu lugar”), ou seja, para desarrumar a navalhadas os eixos bem organizados do masculino e do feminino, sendo ela, portanto, a mulher que briga, que corta e que escreve as cicatrizes nos rostos daqueles que não aceitam sua arte. Outro ponto nos adverte: “Ela é mulher, ela é bonita e formosa / mas não se engane, ela é muito perigosa”: Maria Navalha é aquela que sorri e que dança, com suas sete saias coloridas, mas que, para garantir o direito ao sorriso e à dança, precisa empunhar, sob estes sete véus, a arma da desconstrução do falo e do deslocamento dos gêneros. E ela conhece muito bem seu segredo, sua arma e a tarefa de seus golpes: como cantam, “traz um sorriso no rosto e uma arma na saia / O seu nome é / é Maria Navalha”.
X X X X X
Sexto Ponto: “mata sem tirar sangue / Engole sem mastigar”
Nesse percurso oscilante que percorro, do Ogó de Exu, passando pela bengala de Tranca-Rua, até chegar às navalhas de Zé Pelintra e dessa perigosa Maria que agora entra em cena, percebo que talvez a guerra que empreenda a Navalha empunhada pela mulher seja o golpe fundamental para uma operação ainda mais radical para se pensar o feminino. Que força é essa que, debaixo das sete saias rodadas, parece reunir todas as armas até agora apresentadas? “Maria Navalha disse / cuidado pra não errar / ela jurou, jurou, tornou jurar / Que mata sem tirar sangue / Engole sem mastigar”. A saia da pomba-gira, para além dos mistérios que guarda a capa dos exus, qual seja, o jogo dos véus e do velamento como movimento do real, ainda guarda um poder a mais: como primeiro e fundamental aspecto da pomba-gira, a arma por baixo da saia, ou melhor a saia como a verdadeira arma, traz consigo os segredos que se encontram desde o Exu iorubano até estas entidades femininas e dançantes da diáspora africana.
Esse encontro se dá no próprio nome pomba-gira, que ela ganha do inquice banto Bombogira. Simas nos explica que “em quimbundo, pambu-a-njila é a expressão que designa o cruzamento dos caminhos, as encruzilhadas. Mbombo, no quicongo é ‘portão’. Os portões, quem é do santo sabe, são controlados por Exu. Bombogira, Pambu-a-njila, Pombagira: as ruas, a encruzilhada, as porteiras, as diáporas, o mundo”[21]. Nesse sentido, nesse primeiro aspecto, o nome pomba-gira carrega a encruzilhada não apenas no que representa, mas seu próprio nome nasce no cruzamento disso que, para nossa sociedade, é perigosíssimo: a junção entre a potência do inquice banto com o poder da mulher sobre o próprio corpo. Não é à toa que vários pontos chamam a atenção ao fato de devermos ter medo das pomba-giras, não mexer com elas, não menosprezar seu poder, pois se “na boca de quem não presta, pomba-gira é vagabunda”, é porque ela é mulher de domingo até segunda. Simas e Rufino nos chamam a atenção para o fato de que “a saia rodada, as pitadas na cigarrilha e as gargalhadas reposicionam imagens e ressignificam as experiências do feminino. São as suas tesouradas [e navalhadas, digo eu] que nos livram das amarras coloniais vestidas sob o véu do pecado”[22]. A pomba-gira é mulher que vadeia, que gira, que gargalha, que tem sete maridos e cuja saia, sendo de sete panos ou um mulambo só, promovem outra operação que apenas ela e Exu podem fazer: engolir e cuspir.
A pomba-gira que mata sem tirar sangue e engole sem mastigar é aquela que rodeia sua saia nos terreiros e que carrega, como seu segundo aspecto ancestral, a tarefa de Enugbarijó ou “boca que come tudo”. Rufino nos explica que “O domínio de Exu intitulado como Enugbarijó, o senhor da boca coletiva, nos diz sobre (…) todas as dinâmicas de transformação, reprodução, multiplicação, possibilidade, imprevisibilidade, criação, comunicação, mediação e tradução”[23]. Dona Sete Saias, Dona Mulambo e todas essas Marias rodopiantes engolem inclusive Exu e cospem nos terreiros suas mandingas, suas cores, suas baforadas e, através de suas danças, empoderam os corpos femininos, de homens e mulheres, e promovem impensáveis, impossíveis e incalculáveis coreografias.
X X X X X X X
Sétimo Ponto: “Ela bate com o pé e sai andando”
“Sedução, amarração, provocação, abuso e desobediência”[24], a potência encantada das pomba-giras, segundo Simas e Rufino, “é resultado entre a força vital do poder das ruas que se cruzam, presente no inquice dos bantos, e a trajetória de encantadas ou espíritos de mulheres que viveram as ruas de diversas maneiras”[25]. Essas personagens transgressoras, prostitutas, meninas de ruas, ciganas, cafetinas, mendigas, malandras, feiticeiras, que macumbam através de feitiços de amor e que limpam quem delas precisa com o pano de suas saias, tinhosas e debochadas, promovem uma operação única na cultura popular brasileira, o padilhamento.
Diz o ponto que Maria Padilha tem um mal costume, pois quando a chamamos, chamamos várias vezes, e “ela bate com o pé e sai andando”. Isso porque Padilha é aquela mulher que não tem medo; que quando juraram que a matariam na porta do Cabaré, ela passa a andar por lá de dia e de noite, dizendo aos quatro ventos que só não a matam por que não querem; Padilha é aquela que, quando encontrada sob o clarão da lua e perguntada onde é sua morada, responde que mora numa estrada sem fim, pois seu caminho é o de sempre estar em trânsito, transitando, transgredindo, transicionando, transando, libertando os corpos através de sua performance, em uma palavra: padilhando. Desse modo, aquele “mal costume” da Padilha ao qual o ponto se refere, o de bater com o pé e sair andando, nos mostra que sua tinha consiste em andar por aí sem medo, seguir sua estrada sem fim e só fazer o que quer, na hora em que quer, sendo o padilhamento, portanto, a operação simbólica através da qual o corpo feminino empadilhado não se submete mais à ordem e às hierarquias, que, como bem sabemos, são sempre masculinas.
“Ela gira no mar, ela gira na praça, ela gira na rua / Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de lua”, canta o ponto, nos lembrando que a gira que constitui o nome dessas tantas moças é o que há de mais importantes nas macumbas brasileiras, e que, firmando as giras em nossos terreiros, essas mulheres que dançam talvez sejam a grande potência desconstrutora e descolonial de nossas terras. Cito Simas e Rufino, no brilhante capítulo “Quem tem medo da pomba-gira?”, de Fogo no mato:
Torna-se emergencial rodas as saias a fim de incorporar movimentos que credibilizem outros conhecimentos. Nessa encruza, a pomba-gira baixa para destravar os nós do corpo e praticar um giro enunciativo que opere a favor do combate às injustiças cognitivas, sociais e da disciplinarização dos corpos. (…) Os giros das saias rodadas nos indicam outras rotas, chamaremos uma dessas perspectivas transgressivas de padilhamento dos corpos.[26]
Essas muitas Marias, donas das ruas, navalham, giram, padilham e gargalham enquanto nós permanecemos aqui, presos às estruturas pretensamente fixas, buscando origens e fundamentos, criando ontologias e teleologias enquanto elas, sem dialéticas, sem fenomenologias, muito menos análises ou deduções, deixam seus rastros como saias que parecem flutuar, escrevem com batons e piteiras e deslocam muito mais do que qualquer homem jamais ousou sonhar. A ereção cai.
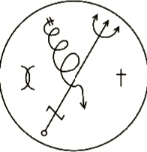
Cantando para subir: “Cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher”

Não poderia terminar sem testemunhar as tantas danças e giras que presenciei, mas uma em especial precisa ficar, aqui, registrada, por ser a minha primeira impressão de uma dessas mulheres que dançam. Tinha dez ou onze anos quando minha mãe, ateia, não sabendo se estava louca ou o que poderia ser, começou a falar estranho, mexer os ombros e querer dançar. Eu era o filho mais velho e aquele que, também sequer sabendo do que se tratava, devia então acolher os pedidos que eram feitos pela voz modificada de minha mãe, com um olhar penetrante do qual nunca me esqueço.
Por algumas vezes a situação se repetiu e, em todas, tentei acolher a demanda da moça que queria dançar – pois, agora, já sabia que minha mãe, quando a voz mudava, o olhar aguçava e os ombros e quadris balançavam, era “a moça”, aliás, a moça que sempre queria dançar, que dizia que cresceu numa fazenda bem longe, e cujo pedido para dançar era sempre frustrado, pois meu repertório de pré-adolescente na cultura pop da década de oitenta era plenamente insatisfatório para as demandas rítmicas e melódicas da moça que nasceu em Maceió. Um dia minha mãe resolveu procurar um centro espírita perto de nossa casa (em plena Tijuca cujo conservadorismo consegue reunir o positivismo do espiritismo ao dos militares) e, neste centro, a moça também baixou – e, como sempre, quis dançar. Minha mãe, pela indisciplina dessa moça, cuja falta fora apenas a de querer dançar, foi convidada a se retirar do centro e, uma vez mais, a moça ainda não tinha podido dançar.
Naquele momento, eu não sabia, é claro, mas já se mostrava a mim que as moças que querem dançar são um problema ao reacionarismo, e que sempre darão esse tipo de problema, pois seu desejo de dançar é a afirmação daquilo que têm de mais próprio e de que tanto precisam: sua identidade em movimento. Porém, um dia, pouco tempo depois, a moça que queria sempre dançar encontrou um salão onde isso era possível, um lugar que, qual um cabaré, era liderado por uma outra moça que dançava e que se chamava justamente Maria Padilha. E, desde então e durante muito tempo, vi a moça que queria dançar se encontrando, ao som do atabaque, com um coletivo de moças dançarinas, girando, rodopiando, e que, com suas rosas, faziam a gira girar.
A voz de Ângela Maria invade a escrita e, saudando as moças da noite, cantando ô girando, larô iê!, ô girando, laro iê!, interrompe o texto para deixar as vozes e as saias delas terminarem esse rodopio padilhante e, elas, assinarem o texto,
Pois sim, esse texto que começa com a moça dançante estampada nas coreografias do feminino de Carla Rodrigues, deseja ecoar não apenas o pedido para dançar de Emma Goldman, mas, também dedicado a ela e a Carla Rodrigues, procura dar ouvidos à necessidade de dança que nos exigem Madame Satã, a mulata do Balacochê, Pomba Gira de Maceió, Maria Padilha, minha mãe, e tantas outras moças bonitas que, girando, girando, girando lá, navalham os sexos e os gêneros que, enrijecidos, nunca poderiam proporcionar uma pluralidade de coreografias como as que necessitamos nesta revolução.
De vermelho e negro, vestindo
À noite o mistério traz
De colar de ouro, Brincos dourados
A promessa faz
Se é preciso ir
Você pode ir
Peça o que quiser
Mas cuidado amigo
Ela é bonita, ela é mulher
E num canto da rua
Zombando, zombando, zombando está
Ela é moça bonita
Girando, girando, girando lá…
NOTAS
[1] Carla Rodrigues. Coreografias do feminino. Florianópolis: Editora Mulheres, 2009.
[2] “Deixemos o élitro flutuar entre feminino e masculino”(Jacques Derrida. Esporas: os estilos de Nietzsche. Rio de Janeiro: NAU, 2013, pág. 24). Élitro é o nome de uma certa asa de alguns insetos, que tem como função o equilíbrio.
[3] Referência ao Manifesto contrassexual, de Paul B. Preciado.
[4] Referência à Crítica da razão tupiniquim, de Roberto Gomes, livro de 1977 que faz com que Darcy Ribeiro diga que o Brasil enfim teria voltado a filosofar.
[5] Referência à introdução do livro Sambo, logo penso: afroperspectivas filosóficas para pensar o samba, escrita por Renato Nogueira e Marcelo Moraes.
[6] Referência à Farmácia de Platão, de Jacques Derrida.
[7] Luis Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no Mato: a ciência encantada das macumbas, pág. 114 (Rio de Janeiro: Mórula, 2018).
[8] Luiz Rufino. Pedagogia das encruzilhadas, págs. 44 e 45 (Rio de Janeiro: Mórula, 2019).
[9] Indico a leitura de todos os itans de Exú do livro Mitologia dos orixás de Reginaldo Prandi.
[10] Termo utilizado por Simas e Rufino em Flecha no tempo (Rio de Janeiro: Mórula, 2019). Indico a leitura do capítulo “O carrego colonial”. Ver também o capítulo “Rolê e ebó epistemológico” de Pedagogia das encruzilhadas, de Rufino.
[11] Pedagogia das encruzilhadas, pág. 29.
[12] O corpo encantado das ruas, de Luiz Antonio Simas, págs. 17 a 20 (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019).
[13] Quase-conceito gingado a partir das diversas falas e escritas de Simas sobre a malandragem.
[14] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato, pág. 87.
[15] Marcelo José Derzi Moraes e Adriano Negris. “Escrituras da cidade: ordem e desordem a partir de Derrida”. In: Dirce Eleonora Solis e Marcelo José Derzi Moraes. Políticas da cidade (Coleção Querências de Derrida, moradas da arquitetura e filosofia, vol. 4). Porto Alegre: UFRGS, 2016.
[16] Segundo a já mencionada citação da oscilação do élitro, de Esporas.
[17] Leitura que Derrida faz de Nietzsche em Esporas e que pensa a operação realizada na filosofia pelo filósofo alemão através de sua utilização procedimental das aspas.
[18] Leitura que Preciado faz de Derrida no Manifesto contrassexual e que pensa a desconstrução empreendida por Derrida através da metáfora das tesouras.
[19] O termo operação é utilizado por Preciado para apontar à potente desconstrução do gênero e de sua relação com a materialidade dos corpos presente no pensamento da desconstrução.
[20] Lembrando que, em Esporas, Derrida, para pensar o jogo do feminino remete a diversos objetos cortantes, como o par de esporas, o estilete e a adaga, da Lucrécia de Cranach.
[21] Luis Antonio Simas. O corpo encantado das ruas, pág 21.
[22] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato, pág. 90.
[23] Luiz Rufino. Pedagogia das encruzilhadas, pág. 141.
[24] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato, pág. 89.
[25] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato, pág. 92.
[26] Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Fogo no mato, pág. 96.
Créditos na imagem: Mulheres ciganas. Joseph Farquharson.
[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”SOBRE O AUTOR” color=”juicy_pink”][vc_column_text][authorbox authorid = “47”][/authorbox]
Rafael Haddock-Lobo
Related posts
História da Historiografia
História da Historiografia: International
Journal of Theory and History of Historiography
ISSN: 1983-9928
Qualis Periódiocos:
A1 História / A2 Filosofia
Acesse a edição atual da revista



