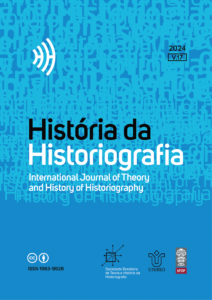A eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em 1º de fevereiro, poderia sugerir que os ritos legislativos na capital da República seguem o curso traçado pelos regimentos e pelas formalidades habituais. Porém, nem o turista mais desavisado deixaria de notar que, ainda faltando um mês para o carnaval, a política brasileira começou 2025 com elementos lúdicos no vestuário: a batalha dos bonés, como sintetizou boa parte da mídia. Sobre as cabeças de deputados da oposição, um boné verde e amarelo com a frase Comida barata novamente – Bolsonaro 2026. Já em setores governistas, o adereço azul expressa O Brasil é dos brasileiros – utilizado também pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva em vídeo publicado nas redes sociais. Deixemos de lado o significado de cada inscrição – e de suas cores – no contexto político atual. Pensemos na forma e no que nos dizem os gestos.
O uso de adereços para expressar autoridade é tão antigo quanto o poder político: o cetro e a coroa acompanham as representações da realeza desde a Antiguidade. Outros elementos simbólicos ao longo do tempo serviram para indicar privilégios nas cortes, ideologias nas ruas ou preferências partidárias nos momentos de insurreição ou de rotinas políticas. A historiadora Lynn Hunt bem salientou, em Política, cultura e classe na Revolução Francesa, que a disputa pela imposição de símbolos e de heróis é indicativa das lógicas que moldaram as ações revolucionárias. A disputa política mobiliza símbolos porque eles atingem o imaginário e os valores que, de forma mais ou menos difusa, orientam as pessoas no seu comportamento político – como a longa discussão sobre o conceito de cultura política demonstra.
Muitos seriam os exemplos históricos do uso de símbolos nos embates políticos no Brasil. No Rio Grande do Sul, lenços brancos e vermelhos diferenciaram partidos rivais na guerra civil de 1923; em Minas Gerais, os lenços brancos foram retomados da tradição liberal do século XIX para demonstrar a preferência pelo brigadeiro Eduardo Gomes, candidato a presidente em 1945. Em 1910 tivemos a batalha entre a pena e a espada na eleição presidencial em que Rui Barbosa disputou com o marechal Hermes da Fonseca. Em 1960, vendia-se nas ruas botons em forma de espada ou de vassoura, representando as candidaturas presidenciais do general Henrique Lott e de Jânio Quadros. Cores, bandeiras, símbolos e adereços reforçam ideias e mobilizam as identidades políticas.
Visto deste modo, os acessórios de cabeça no Congresso Nacional seriam apenas mais um elemento simbólico de identificação política e mobilização do imaginário. Pode-se dizer que a atual batalha de bonés começou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao exibir sobre a fronte um boné vermelho com a frase Make America Great Again – em referência à campanha de Donald Trump nos Estados Unidos. O gesto pode ser facilmente interpretado como um aceno do presidenciável à extrema direita. Para além do que estes adereços dizem em suas frases de efeito, o que a batalha dos bonés, em sua forma e imagem, pode nos dizer sobre a atualidade da política brasileira?
As fotografias dos deputados, do governador de São Paulo e do presidente da República usando bonés podem ser vistas como um exemplo do que Peter Burke, em seu estudo sobre as imagens, chamou de estilo demótico da política. Ou seja, diante da necessidade de construir popularidade, as lideranças políticas passam, crescentemente a partir do século XX, a associar suas imagens a elementos que possam gerar identificação nas camadas populares. Simplificando, podemos dizer que enquanto o voto e a política diziam respeito a poucos, prevaleceu a imagem aristocrática do político. Com o avanço da democratização, buscou-se aproximar a imagem dos políticos a dos cidadãos de classe média ou dos operários, dos homens e das mulheres comuns. Essa explicação é bastante parcial e insatisfatória.
Quando parlamentares e governantes aparecem na televisão ou nas redes sociais vestindo camisetas de clubes de futebol e bonés, estaríamos diante de um estilo demótico de construção da imagem pública que, em grande medida, concerne ao avanço da democracia e à mobilização de valores e símbolos que faz parte da vida política. No entanto, considerando o contexto da política brasileira na última década, incorreríamos em grave ingenuidade se não interpretássemos a tais gestos na esteira da rejeição à política. Atualmente, não se trata de construir uma outra imagem para os políticos, mas de demonstrar o não pertencimento à classe política. Nada de lenços coloridos no paletó para expressar preferências partidárias e defesas programáticas: boné, camiseta de futebol, animal de estimação no colo e uma frase fácil e agressiva nos lábios para se contrapor aos políticos tradicionais, eis grande parte da receita para a vitória. No Congresso, este tipo de outsider forma a base mais estridente da extrema direita junto aos militares e aos pastores evangélicos.
Não se trata de elitismo ou de censura ao uso de bonés. O cerne da questão é a batalha de bonés como sintoma da rotinização de práticas de desmoralização da política, o que se faz notar, em grande medida, pelas badernas e cenas circenses que têm os plenários do Congresso como picadeiro e as redes sociais como plateia. Muito além de qualquer traço lúdico necessário ao debate político civilizado, os atuais bufões com mandato não querem debater, tampouco legislar, querem tumultuar a democracia. A batalha de bonés, com seu apelo demagógico e suas frases de efeito, esconde acima de tudo uma grande derrota tanto para a centro-direita quanto para a centro-esquerda. Ambas, simbolizadas de um lado pelo PSDB e de outro pelo PT, protagonizaram a vida congressual junto a um PMDB de centro durante vinte estáveis anos entre a eleição de Fernando Henrique Cardoso e a reeleição, já conturbada, de Dilma Rousseff. O que não quer dizer que o embate político se orientasse pelos referenciais mais sofisticados, pois não estamos falando de Rui Barbosa. Mas também não estamos falando do deputado Pastor Sargento Isodoro, que na atual legislatura declarou-se nem de esquerda, nem de direita: “Sou conhecido como doido”.
O avanço da incorporação das camadas populares à vida democrática atingiu o coração do modo aristocrático e elitista de fazer política. O filósofo alemão Walter Benjamin já dizia, em seu ensaio sobre a era da reprodutibilidade técnica, que a mesma tensão que atingia o ator de teatro de diante da câmera de cinema pairava sobre os homens da política: primeiro as ondas do rádio e depois as telas os transportaram da convivência entre pares para o julgamento das massas. Até o início do século XX os políticos profissionais deveriam reunir, além de um capital político ligado à herança familiar ou prestígio, competências em geral relacionadas ao mundo do Direito. As transmissões de rádio e as fotografias nos jornais, mais tarde o cinema, tensionaram essas competências paralelamente à ampliação do mercado eleitoral. O modo de falar e o modo de dar-se a ver às massas passou a ser fundamental. A televisão e o moderno marketing político tensionaram ainda mais o modelo do bacharel. Mas ainda assim, nesses canais de comunicação havia um ambiente controlado que as redes sociais implodiriam de vez. E a extrema direita, rejeitando a democracia, fez melhor uso dessa implosão.
O grande problema na implosão dos protocolos, das formalidades, dos modos atenuados de embate retórico, da forma tradicional do fazer político que predominou por séculos nos parlamentos, é que a velocidade das mudanças nos meios de comunicação que impulsionam as novas formas não altera o fato de que a vida parlamentar ainda precisa lidar com leis, com direitos, com políticas públicas, com dados, com argumentos racionais, com assuntos de Estado. Enquanto os temas mais relevantes da vida nacional estão em pauta, grande parte dos parlamentares parece ter perdido – ou nunca ter adquirido – a capacidade de parlamentar, ou seja, de debater com argumentos coerentes. Nem se fala mais aos pares, se fala aos seguidores em transmissões ao vivo pelo celular. E nestas, e na tribuna, o que predomina são os jargões, as soluções mágicas, as mesmas frases simples e agressivas das campanhas eleitorais. Nesse vazio de lideranças, congressistas com maior conhecimento sobre a máquina pública e os meandros da política, como Arthur Lira, se destacam e fortalecem os modos mais tradicionais do mandonismo e do fisiologismo.
Ao entrar na guerra de frases em bonés e em outras piruetas, deputados governistas não se distinguem dos oposicionistas, incluindo os bolsonaristas, pois legitimam uma estética e uma linguagem que possui íntima relação com a crescente degradação do debate público no Brasil nos últimos anos – que não se dá apenas no conteúdo, mas também na forma. O debate áspero, difícil e complexo no enfrentamento de grandes temas exige formação política, lucidez e decoro, não por simples elitismo, mas porque necessita da formalidade que permite a inteligibilidade do embate democrático. Isso não gera engajamento nas redes sociais e não cabe nos bonés. Assim as leis, os direitos, a economia e o orçamento público ficam aos cuidados das grandes raposas que conhecem os códigos das salas secretas, enquanto setores da esquerda brincam de pega-pega com setores da direita, jogando em um terreno que o adversário domina e reforçando formas de rejeição à política.
REFERÊNCIAS
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Porto Alegre: Zouk, 2014.
BURKE, Peter. Testemunha ocular: o uso de imagens como evidência histórica. São Paulo: Unesp, 2017.
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Créditos da imagem da capa: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Douglas Souza Angeli
Related posts
Notícias
História da Historiografia
História da Historiografia: International
Journal of Theory and History of Historiography
ISSN: 1983-9928
Qualis Periódiocos:
A1 História / A2 Filosofia
Acesse a edição atual da revista