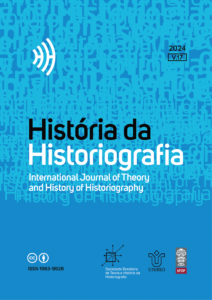O fim da Segunda Guerra Mundial foi demarcado, em grande medida, pela rendição alemã em maio de 1945. Tal fato, há 80 anos, colocava o mundo em uma conjuntura bem específica, com a vitória dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da União Soviética, bem como de seus aliados, incluindo o Brasil, sobre as ditaduras fascistas de Adolf Hitler e Benito Mussolini. O rompimento com as nações do Eixo, a declaração de guerra, a aliança com os Estados Unidos e o envio da Força Expedicionária Brasileira colocaram o Brasil em novo patamar no contexto mundial, sendo tal processo acompanhado pelo impulso da industrialização de base com financiamento norte-americano. No entanto, com o fim da guerra, a aliança com o governo brasileiro não seria mais prioridade para os EUA e com a morte de Franklin Roosevelt, em abril, a ditadura de Getúlio Vargas passou a ser vista com cada vez mais embaraço.
Getúlio Vargas não se impôs pela própria força. Candidato reticente de oposição em 1930 e revolucionário vacilante na sequência dos acontecimentos, assumiu o poder com um golpe de Estado liderado por frações das oligarquias e das Forças Armadas, os chamados tenentes. O governo provisório foi marcado pelo conflito entre as diferentes facções que disputavam o domínio do novo cenário político e a força do ditador provinha da capacidade de manejar os concorrentes. Sua posição não era forte, o apelo às massas ainda não estava construído, a Constituição de 1934 foi por ele considerada liberal demais, portanto, uma derrota, fato agravado pela ampliação das oposições na Câmara dos Deputados eleita em 1934. No mesmo ano, Vargas foi eleito indiretamente para um mandato constitucional que se encerraria em 1938.
A experiência de democracia liberal se mostraria breve: após a insurreição nacional-libertadora (chamada de Intentona Comunista), em 1935, o regime gradativamente se fecha, com estado de sítio, censura, repressão e prisão de opositores, tudo com o aval de um Congresso Nacional marcado pelo modelo aristocrático de partidos políticos e pela inadmissão da participação das massas na vida política – sob efeito do exorcismo do fantasma comunista. O novo golpe de Estado que, em novembro de 1937, cancelou as eleições presidenciais, fechou os parlamentos e partidos e impôs nova Constituição ao país foi, portanto, resultado do processo de erosão das instituições democráticas criadas em 1934. Nesse processo, coincidente com a onda de anticomunismo, Getúlio Vargas se fortaleceu, mas o golpe não seria dado sem a atuação decisiva das Forças Armadas.
O ciclo político-militar iniciado na década de 1920 foi marcado pela ascensão da geração tenentista, mas as revoltas de 1922 e 1924, a Coluna Prestes e o movimento civil-militar de 1930 não foram ações protagonizadas pela cúpula das Forças Armadas e sim pela baixa oficialidade. No regime Vargas, estas jovens lideranças militares assumiram cargos políticos, notadamente as interventorias estaduais no governo provisório. A década de 1930 seria marcada, no entanto, por uma inflexão comandada pelo general Góis Monteiro: era necessário encerrar a fase da política no Exército e atuar através da política do Exército. Foi enquanto corporação que os militares garantiram o golpe de 1937 e sustentaram o regime autoritário de Vargas nos anos seguintes. Foi também a corporação, do alto da cúpula para baixo, que o derrubou em 1945.
Getúlio Vargas também passou por metamorfoses no período. Se a primeira fase do chamado Estado Novo é marcada por um autoritarismo desmobilizador e sustentado na repressão, a segunda fase, a partir de 1942, vai apostar na construção de uma nova base de legitimidade: a incorporação das camadas populares urbanas aos mecanismos político-institucionais. O trabalhismo, com o pressuposto de que o papel do Estado seria a mediação entre Capital e Trabalho para garantia dos direitos sociais, foi a ideologia que estruturou a política de massas no final da ditadura Vargas. Internamente, os agentes do governo discutiam estratégias para a futura abertura do regime, buscando na nova fonte de legitimidade popular um meio para manutenção de suas posições de poder em novo arranjo onde partidos e eleições voltassem à pauta nacional. A ditadura, como a guerra, não duraria para sempre.
De meados de 1944 a outubro de 1945, a dinâmica política brasileira se modifica, com a reorganização das oposições e as sinalizações do regime quanto a uma abertura. No início de 1945, foram anunciadas eleições presidenciais e para assembleia constituinte a serem realizadas em dezembro. Em maio, o decreto da nova lei eleitoral estabeleceu as bases para a formação dos partidos, para o alistamento e para o pleito. Com a obrigação do registro de partidos nacionais, formam-se o Partido Social Democrático (PSD), pelo governo, e a União Democrática Nacional (UDN) pelas oposições. Com a anistia, ressurge na legalidade o Partido Comunista do Brasil (PCB), impulsionado pelo ambiente de vitória contra o fascismo com o destacado papel da União Soviética entre os Aliados. Se o PSD representava a base de sustentação do regime Vargas nas elites políticas gestadas pelos interventores estaduais, a outra base, formada pelo sindicalismo e pela mobilização das camadas populares urbanas, se autonomiza e forma o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
As eleições presidenciais de 1945 se dão, assim, em conjuntura bem definida e marcada pelas incertezas: o fim da Segunda Guerra e a perspectiva de reorganização dos mercados mundiais, o gradativo fim da ditadura Vargas, a formação dos partidos políticos nacionais, a ampliação do eleitorado com contingentes urbanos e industriais, a legalidade do Partido Comunista, o movimento popular queremista a favor da permanência de Vargas no poder, o fortalecimento das Forças Armadas e a reorganização das oposições que somavam oligarquias do pré-1930, dissidentes do regime e novas lideranças liberais. Duas candidaturas presidenciais se consolidaram nesse ambiente: a do brigadeiro Eduardo Gomes, pela UDN, e a do general Eurico Dutra pelo PSD. Assim, os militares se reposicionaram como salvadores da democracia e fiadores do novo regime.
Havia desconfiança quanto às ações dúbias do ditador durante o processo: não se afastou do cargo para concorrer, apoiando de forma tímida o seu ministro da Guerra, general Dutra; reforçou simbolicamente a mobilização queremista e decretou, em outubro, que as eleições de dezembro serviriam também para a escolha de governadores. Vargas já havia rasgado duas Constituições, impedido a posse de um presidente eleito e cancelado outra eleição presidencial. Deixaria o poder? Acima de tudo, o ditador ensaiava um reposicionamento no novo arranjo, com os apelos ao PTB e com a máquina do PSD trabalhando para eleição de seus aliados no Congresso e nas previstas eleições estaduais. Em 29 de outubro, a política do Exército derrubou o ditador, sob a batuta de Góis Monteiro e de Eurico Dutra.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu o governo promovendo uma inflexão liberal sob comando do novo ministro da Fazenda, João Pires do Rio. Os decretos de controle das remessas de lucros e de combate aos trustes foram revogados, simbolizando o rompimento com o nacionalismo econômico de Vargas. Em 1945, intervencionismo na economia se tornou sinônimo de ditadura em artigos da imprensa e em discursos políticos. A agenda liberal seria adotada, inclusive, por Eurico Dutra, eleito em 2 de dezembro de 1945, cuja primeira fase do governo seria marcada pela liberalização das importações. A inflação seria combatida pelo receituário liberal, o que resultou na queima das reservas cambiais brasileiras sob a promessa de investimentos estrangeiros que não chegaram a compensar as importações indiscriminadas.
Em 1945, as oposições retomaram suas posições no jogo político sob a bandeira do liberalismo, principalmente através da UDN. Integrantes das velhas oligarquias, como Arthur Bernardes, Otávio Mangabeira e Júlio Prestes, retornaram à cena, junto aos bacharéis como Milton Campos e Afonso Arinos de Melo Franco. Na oposição a Vargas, atribuíam a si a defesa da democracia e da liberdade – e sua “eterna vigilância”. Aquele ano de fim da guerra também foi de reposicionamento para os militares, os mesmos que haviam afiançado o regime autoritário de Vargas. Derrubando o ditador e disputando o voto para um general e um brigadeiro, a cúpula das Forças Armadas deixaria apenas na conta do ex-presidente a desvirtude da ditadura, tornando-se, então, fiadora do novo regime democrático.
Por sua vez, Vargas iniciou, no mesmo ano, o próprio reposicionamento: eleito senador pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, e deputado federal em sete estados, buscaria, com sucesso, reconverter as interpelações trabalhistas e nacionalistas do regime autoritário na nova gramática eleitoral do PTB. É importante que as análises sobre esse processo desviem da ilusão de que a queda de Vargas foi resultado necessário do fim da guerra e da vitória das democracias. Seu governo encerrou em 29 de outubro de 1945, quando as Forças Armadas o depuseram, mas não era esse o resultado fatalmente determinado. O ditador, mais uma vez, estava se modificando para caber no novo arranjo. É justamente esta plasticidade que pode explicar como uma jovem liderança oligárquica do pré-1930 e ditador do Estado Novo se tornou líder de massas eleito pelo voto direto em 1950, sendo alçado a ícone anti-imperialista por setores significativos das esquerdas nos anos seguintes.
REFERÊNCIAS
BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra (orgs.). A Era Vargas: desenvolvimentismo, economia e sociedade. São Paulo: Unesp, 2012.
D’ARAÚJO, Maria Celina (org.). As instituições brasileiras da Era Vargas. Rio de Janeiro: FGV, 1999.
GOMES, Angela de Castro. A invenção do trabalhismo. 3 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.
LOCHERY, Neill. Brasil: os frutos da guerra. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.
MOURELLE, Thiago Cavaliere; LAGO, Mayra Coan; FRAGA, André Barbosa. Dicionário do Governo Vargas: da Revolução de 1930 ao suicídio. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2023.
Créditos da imagem da capa: Getúlio Vargas em Porto Alegre, 1945-1946. Iconografia do Fundo Francisco Brochado da Rocha, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.
Douglas Souza Angeli
Related posts
Notícias
História da Historiografia
História da Historiografia: International
Journal of Theory and History of Historiography
ISSN: 1983-9928
Qualis Periódiocos:
A1 História / A2 Filosofia
Acesse a edição atual da revista