Texto apresentado no Seminário Bolhas/Grupo de Pesquisa
Estádio do Espelho/UERJ, em 15 de agosto de 2015.
Este texto tem por assunto as vias de fluxo: arte e natureza. Fluem em mim de cedo, menina de rios, menina de mar. Então:
“Cê vai, ocê fique, você nunca volte!” 1
Afluente um. De pequena brinquei em rios e mares, no nordeste e no sudeste, neles dancei como nadei. Quando saí da graduação, percorri profissionalmente boa parte do país e conheci quase todos dos nossos principais rios, e foi filmando as cataratas do Iguaçu, de helicóptero, que corri meu maior risco de vida pela profissão.
Afluente dois. Dois rios, que não conheço mas tornaram-se importantes para mim, ficam na Nigéria. O menor chama-se Erinlé, e tem duas barragens que abastecem de água várias cidades. Em Edé, esse afluente direito encontra-se com o Rio Oxum, maior, com 267 quilômetros de extensão, que nasce no leste do país e deságua num braço de água doce que une as lagoas de Lagos e Lekki. Nenhum dos dois é navegável completamente e o rio Oxum, como se preservasse sua qualidade de rio, jamais chega ao mar.
Entre os ioruba, Erinlé, também conhecido como Oxóssi, é um orixá caçador que é atraído por Oxum, orixá das águas doces, e passa a viver nas profundezas do rios. Assim como os rios se juntam, os orixás Erinlé e Oxum uniram-se e tiveram como filho, Logum Edé, que um dia seria transformado em orixá. Antes de continuar, vou saudar meu pai Logum Edé, Looooguuummm e peço agô, peço licença para usar seu nome.
Afluente três. Penso que não há nada mais fluido que o rio. A lembrança e a decisão de usar este sonho é também porque Logum Edé é um orixá que poderia chamar de fluido. Há muitas mitologias e interpretações sobre a origem de Logun Edé. Na tradição ioruba, de onde se origina, é um orixá masculino e hábil caçador e guerreiro, que guarda em seu comportamento características do pai e da mãe, mas tem também as suas próprias. Meu orixá é menos que um e duplo; é demais e é depois. Orixá metametá, “(…) de contradições; nele os opostos se alternam, é o deus da surpresa e do inesperado”2. Fluido como as matas que mudam sua configuração a cada planta, a cada árvore. Fluido como o rio que mantém sua força oculta sob a calma aparente da superfície.
Em um sonho – os sonhos são importantes na psicanálise, no candomblé e entre as várias etnias indígenas do Brasil -, participava de uma exposição num espaço de arte, no qual apresentava um trabalho que era de duas projeções, de dois rios que percorriam boa parte da parede separados e, ao se juntar, a projeção passava a ser sobre uma mesa, uma longa mesa, como se houvesse uma tela maleável que pudesse fazer curvas. Esse trabalho chamava-se Loooooguuuummm. Um nome assim cheio de oo e uu, reproduzindo a dimensão do trabalho e a saudação ao orixá.
Afluente quatro. “É do rio estar passando”3, lembra-nos João Cabral de Melo Neto em O Rio. Ou, parafraseando Heráclito, um homem jamais pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque as águas se renovam a cada instante. Por conta desse caráter impermanente, o rio é um espelho em devir que nunca agarra a imagem e por onde sempre o reflexo escapa.
Ao falar de um rio, especificamente do Capibaribe, que atravessa o estado de Pernambuco, corta a cidade de Recife e deságua no oceano Atlântico, João Cabral de Melo Neto diz que aquele rio é como um cão sem plumas, como uma espada passada por uma fruta.
Liso como o ventre
de uma cadela fecunda,
o rio cresce sem nunca explodir.
Tem, o rio, um parto fluente e invertebrado
Como o de uma cadela.4
E mais adiante:
Entre a paisagem
O rio fluía
Como uma espada de líquido espesso.
Como um cão humilde e espesso.5
O poeta fala do rio no qual brincava quando criança, de aspecto lodoso e água escura, em cujas margens vive parte da população pobre de Recife
Porque é na água do rio
Que eles se perdem
(lentamente
e sem dente).
Ali se perdem
(como uma agulha não se perde).
Ali se perdem
(como um relógio não se quebra).
Ali se perdem
como um espelho não se quebra.
Ali se perdem
como se perde a água derramada:
sem o dente seco
com que de repente
num homem se rompe
o fio de homem.6
Estamos vivendo uma pandemia, condenados ao isolamento social, porque jamais entendemos que somos o planeta terra. Agimos como se habitássemos uma superfície que nada tem a ver conosco. E a destruímos, queimamos, poluímos. E a vida, com tudo isso, que nos atravessa e paralisa, passa como um rio, como um fluxo arrebatador, que volta e meia nos mostra sua face violenta. E o fio do homem escorre por aquele rio que é fálico como uma espada, mas, ao mesmo tempo, liso como a barriga de uma cadela prenha. O rio de João Cabral tem um caráter de duplo gênero:
Desde tudo me lembro,
lembro-me bem que baixava
entre terras de sede
que das margens me vigiavam.
Rio menino, eu temia
aquela grande sede de palha,
grande sede sem fundo
que águas meninas cobiçava.7
Afluente cinco. O caráter de tríade, como Logunedé, que é sempre depois, é como uma terceira margem que sempre desloca e desdobra, e surpreende. Cê vai, ocê fique, você nunca volte! Esta frase, retirada de A terceira margem do rio, de João Guimarães Rosa, que poderia ter sido dita por Heráclito, dá título a este texto: Cê vai, ocê fique, você
nunca volte! Assim, aqui navego essa alternância e impermanência como e com o conto de Rosa.
O pai decide exilar-se em um pequeno barco no rio próximo de onde morava. A ideia é não mais sair do barco, para nada, a família e amigos se desesperam, tentam inicialmente dissuadi-lo da ideia; depois de sua ida, tentam trazê-lo de volta. Mas o pai não fala, não se comunica – torna a comunicação impossível, presentifica-se como alteridade radical –, permanece ali, sempre ali, no meio do rio como uma terceira margem, impossível.
A gente teve que se acostumar com aquilo. Às penas que, com aquilo, a gente não se acostumou, em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria, e no que não queria, só com nosso pai me achava: assunto que jogava para trás nos meus pensamentos. O severo que era, de não se entender, de maneira nenhuma, como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor, sereno, e nas friagens terríveis do meio-do-ano, sem arrumo, só com chapéu velho na cabeça, por todas as semanas, meses, e os anos – sem fazer conta do se-ir do viver.8
Era como se o pai com sua atitude, buscasse ali, naquele barco, um lugar, uma margem alternativa, um espaço, o lugar do cruzo, ou era em si mesmo a encruzilhada. O viver ia-se como o rio, com o rio seguia seu fluxo.
Narrado por um dos filhos, o que não se vai e permanece com o pai, e como ele deixa a vida ir-se, enquanto observa da margem seu pai envelhecer. Quando finalmente decide tomar seu lugar, quando acena essa possibilidade, o pai reage e ele corre, corre de ser margem por vir, amedronta-se de perceber que é o espelho do pai.
Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde. E temo abreviar com a vida, nos rasos do mundo. Mas, então, ao menos, que no artigo de morte, peguem em mim, e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água, que não para, de longas beiras: e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro – o rio.9
O desejo de reconhecimento do filho pelo pai – ele havia pedido para ser levado junto na canoa, na partida do personagem paterno – colocou-o nesse lugar intersticial, entre o querer estar no barco e na margem. Mais do que o direito de olhar, o filho reivindicava o direito de ser visto. Sua invisibilidade, por falta de comunicação colocou-o nesse espaço marginal, indecidível – “um sujeito que habita a borda de uma realidade intervalar.”10
Afluente seis. Ainda a violência: aquela do direito de ser visto, bem como do direito de olhar. Não, a do direito de olhares, de querer escapar de uma invisibilidade insistente imposta por um sistema que teima em reproduzir privilégios, empurrando o invisível para as margens. Em artigo que escrevi para a Revista Concinnitas, intitulado O conflito performático11, trago a questão do direito de olhares, a partir do filósofo magrebino, Jacques Derrida. Foi de Derrida que Nicolas Mirzoeff tomou emprestado a expressão que dá título a seu artigo, por sinal muito bem colocado neste seminário por Bárbara Copque, no qual estabelece a contravisualidade como estratégia de resistência à cultura visual imposta, que mantém através do que se deve e pode ver, e do que não se deve ou pode olhar, os privilégios de um sistema injusto. Diz Derrida que o direito de olhar é estabelecido por regras, quebrá-las é ultrapassar esse direito e borrar fronteiras, estabelecer margens mais largas, ou ainda, criar margens impossíveis, de modo que haja sempre tremor nas relações nesse novo espaço, de modo que esses novos lugares coloquem o sistema e seus representantes sempre em dívida, de modo que nunca mais se tenha que ouvir que não se pode respirar. De modo que nunca mais uma criança tenha que perguntar: “Ele não viu que eu estava de uniforme, mãe?”
Uma violência como essa apresenta-se como dívida impagável, bem como o perdão e a vingança, que acabam sendo da ordem do impossível. “Mas residir “no além” é ainda, como demonstrei, ser parte de um tempo revisionário, um retorno ao presente para descrever nossa contemporaneidade cultural; reinscrever nossa comunidade humana, histórica; tocar o futuro em seu lado de cá.”12
Como diz Gayatri Spivak, em Pode o subalterno falar?, a questão é o Outro do ocidente ser sempre representado ou “constituído” a partir do ocidental. O Outro só pode ser visto, a partir do sujeito ocidental, e, na sequência, só pode ver o que lhe é dado a ver, mais uma vez a partir da constituição de um sujeito hegemônico13.
Diz o ditado popular que a vingança é um prato que se come frio. Como não concordo, escolho a companhia do poeta Fernando Pessoa que escreveu: “Mas se eu pedi amor, porque é que me trouxeram Dobrada à moda do Porto fria?”14 Dobrada à moda do Porto é um prato que se come quente.
O exercício do direito de olhares, de olhar e ser visto, urge, exige preservar a vida ainda jovem. Essa é a dívida da dádiva da vida, e é impagável, como toda dívida, como toda dádiva. Deve-se resistir contra o fato estabelecido de que devemos fechar os olhos e deixar a vida ir-se. A vida é como um rio, pois o rio é vida. Vai-se na vida como num rio.
Afluente sete. Há um fenômeno que acontece entre os peixes de rio para desova. Chama-se Piracema, e ocorre com muitas espécies de peixes, em vários lugares ao redor do mundo. A Piracema é o processo de fecundação dos peixes. O cardume sobe o rio nadando contra a correnteza, não raro vão aos saltos pulando fora d’água mas mantendo-se no rio, para diminuir o esforço de nadar contra a corrente submersa. O esforço físico empregado pelos peixes aumenta a produção de hormônios. É uma fecundação que ocorre sem coito, externamente: as fêmeas lançam óvulos na água e os machos, os espermatozóides sobre os óvulos. Ao final do processo, os peixes descem
novamente o rio, e junto com eles, os ovos e as larvas que amadurecem no caminho. Para a espécie sobreviver, é preciso nadar contra a corrente todos juntos.
Afluente oito. Finalmente, gostaria de trazer um personagem que passou por muitas falas neste seminário, como um rio de voz em voz, e que gostaria de traçar uma relação com o pai de A terceira margem do rio. Trata-se de Bartleby, da novela Bartleby, o escriturário (uma história de Wall Street), de Herman Melville15. Preferiria não… I would prefer not to…, ele dizia a cada solicitação. Diferente dele, faço uma escolha e é pela análise de Derrida, a qual diz que Bartleby assume a responsabilidade de uma resposta sem resposta. “Evoca o porvir sem predicação nem promessa; não enuncia nada que seja assente, determinável, positivo ou negativo”.16 Preferiria não… é uma frase incompleta. Talvez Bartleby nem preferisse preferir. É essa indeterminação que cria a exasperante tensão que atravessa toda a novela, na medida em que Melville mantém a incompletude da frase de seu personagem em reticências. A tensão imposta ao leitor é inversamente proporcional à aparente indiferença crescente de Bartleby. Talvez o pai de A Terceira Margem, que nada fala, nem responde aos apelos, nem solicitações, de ninguém, que entra em seu pequeno barco e fica no meio do rio, entre as margens, talvez ele estivesse dizendo, preferiria não…, e as reticências; mas o quê? A responsabilidade de uma resposta sem resposta guarda a mesma força de uma terceira margem impossível. Bartleby e o pai não preferem… nada… nem… nem… A mãe afirma ser a escolha da canoa pelo pai, uma não-decisão: “Cê vai, ocê fique, você nunca volte!”
REFERÊNCIAS
BHABBHA, Hommi K. O local da cultura. Traducão Lyriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis. Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
DERRIDA, Jacques. Dar a morte. Tradução Fernanda Bernardo. Coimbra: Palimage, 2013.
MAGALHÃES, Elisa. O conflito performático. Revista Concinnitas, v. 2, n 27, 2016.
MELO NETO, João Cabral. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
MELVILLE, Herman. Bartleby, o escriturário (Uma história de Wall Street). Tradução Cássia Zanon. Porto Alegre: L&PM, 2008.
PESSOA, Fernando. Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005
ROSA, João Guimarães. Ficção completa – volume II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar?. Tradução Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa, André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
http://alaketuode2.blogspot.com/search/label/Orix%C3%A1%20Log%C3%BAn-Ed%C3%A9, pesquisado em setembro de 2020.
NOTAS
1 ROSA, Guimarães, 1995, p. 409
2 http://alaketuode2.blogspot.com/search/label/Orix%C3%A1%20Log%C3%BAn-Ed%C3%A9
3 MELO NETO, 1994, P121
4 MELO NETO, 1994, p. 106
5 MELO NETO, 1994, p. 108
6 MELO NETO, 1994, PP109-110
7 Idem, P119
8 MELO NETO, 1995, p. 410-411
9 Op. Cit., 1995, p. 412-413
10 BHABBHA, 2010, p. 35
11 MAGALHÃES, 2016
12 BHABBHA, 2010, p. 27
13 SPIVAK, 2010, p. 25-60
14 PESSOA, 2005, p. 418
15 MELVILLE, 2008
16 DERRIDA, 2013, p. 96
Créditos na imagem: Divulgação. Lençóis, Bahia. Elisa de Magalhães.










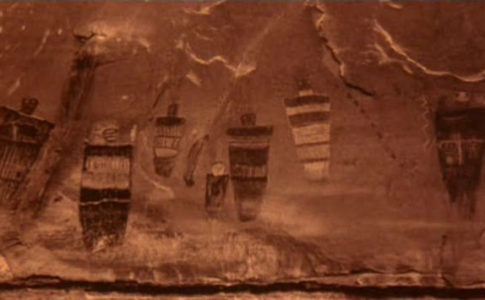
No comments